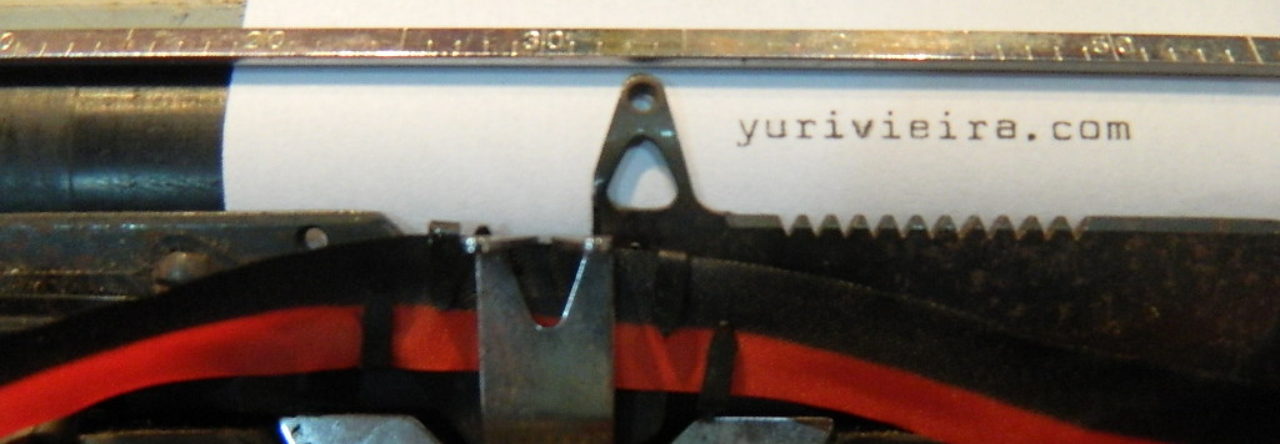Ato III, Cena III de “O doente imaginário”, de Molière.
BERALDO
Posso pedir-lhe, meu irmão, antes de tudo, que não se irrite durante a nossa conversa?
ARGAN
Muito bem.
BERALDO
E respondas sem rancor a tudo que eu possa dizer?
ARGAN
Sim.
BERALDO
E raciocinarmos juntos sobre o que temos de falar, com o espírito livre de toda paixão?
ARGAN
Sim, que diabo! Acabe com o preâmbulo!
BERALDO
De onde lhe vem a idéia de meter sua filha num convento?
ARGAN
Vem do fato de eu ser dono de minha família e poder fazer com ela o que me parecer melhor!
BERALDO
Sua mulher não se cansa de aconselhar que você se livre de suas filhas; e eu não duvido de que, por espírito religioso, ela se encante de ver as duas como freiras.
ARGAN
Agora chegamos ao ponto. Já está em jogo a minha pobre mulher. É ela quem pratica todo o mal; ninguém gosta dela!
BERALDO
Não, meu caro irmão. Sua mulher tem as melhores intenções para com sua família, e não liga a qualquer interesse; e lhe dedica uma ternura maravilhosa; e mostra por suas filhas uma afeição e uma bondade inconcebíveis. Tudo isto é certo. Não falemos disto e voltemos a Angélica. Por que quer você entregá-la ao filho desse médico?
ARGAN
Porque quero um genro que me convenha.
BERALDO
Parece até que você quer casar com ele! Pois eu lhe digo; apareceu um melhor partido para sua filha.
ARGAN
Mas o que escolhi é melhor partido para mim.
BERALDO
Mas o marido é para ela ou para você?
ARGAN
Para ela e para mim: quero na família as pessoas de que preciso.
BERALDO
E por isso se Luizinha fosse mais crescida, você lhe arranjaria um farmacêutico?
ARGAN
Por que não?
BERALDO
Será que você estará sempre enrabichado pelos seus doutores e farmacêuticos, e deseja ser doente a ponto de contrariar a natureza?
ARGAN
Que é que você acha, meu irmão?
BERALDO
Não vejo ninguém menos doente do que você; eu gostaria de ter a sua saúde! Uma grande prova de que você se sente bem e tem uma resistência incrível, é que todos esses clisteres não conseguiram derrubá-lo e você consegue ficar em pé depois de tantas inundações.
ARGAN
Mas são estas coisas que me conservam! O Doutor Purgon afirma: eu morrerei se passar três dias sem sua assistência!
BERALDO
Se você não tomar cuidado, ele lhe dará tanta assistência que o enviará ao outro mundo.
ARGAN
Vamos lá: raciocinemos, meu irmão. Você não acredita na medicina?
BERALDO
Não, meu irmão: e não vejo necessidade de crer para ter saúde.
ARGAN
O quê? Você não acha verdadeira uma coisa estabelecida por todos e por todos os séculos reverenciada?
BERALDO
Muito ao contrário, cá entre nós, acho-a uma das maiores loucuras dos homens; e, contemplando as coisas como filósofo, não vejo palhaçada mais divertida, nada de mais ridículo, que um homem a querer curar outro.
ARGAN
Por que, meu irmão, você não quer aceitar que um homem possa curar outro?
BERALDO
Por um simples fato; as peças de nossa máquina são mistérios; até hoje os homens não entendem patavina destas coisas; e a natureza colocou véus demasiado espessos, diante dos nossos olhos, para que possamos enxergar alguma coisa.
ARGAN
Na sua opinião, os médicos não sabem nada?
BERALDO
Sabem grande quantidade de humanidades, sabem falar em belo latim, sabem batizar em grego todas as doenças, defini-las e classificá-las; mas, quando se trata de curar não sabem nada de nada.
ARGAN
Mas pelo menos vamos convir: nessa matéria, os médicos sabem mais que os outros.
BERALDO
Sabem o que eu já disse e que não cura grande coisa; e toda a excelência de sua arte e uma pomposa parlapatice, um especioso dialeto, a oferecer palavras como razões e promessas como efeitos.
ARGAN
Mas, meu irmão: há pessoas tão sensatas e hábeis quanto você, e essas pessoas, quando adoecem, chamam médicos.
BERALDO
Aí está uma marca da fraqueza humana, e não uma verdade da arte médica.
ARGAN
Mas os médicos certamente crêem na verdade de sua arte. Pois se servem dela para si mesmos.
BERALDO
É que há entre eles os que estão, eles próprios, atolados no erro popular, de onde tiram proveito: e outros que aproveitam sem acreditar no erro. Veja o Doutor Purgon, por exemplo, homem sem a menor finura: é médico, da cabeça aos pés; um homem que crê nas suas regras mais do que em todas as demonstrações matemáticas, e julgaria crime examiná-las: não vê nada de obscuro na medicina, nada de duvidoso, nada de difícil: e, com uma impetuosidade de prevenção, uma confiança cega, uma total brutalidade de senso comum e de razão, sai por aí a dar lavagens e sangrias! Não devemos querer mal a ele por tudo quanto deseja fazer por você: é com a melhor boa-fé do mundo que irá mandá-lo para o outro mundo. Quando o matar, terá feito com você o que fez com a mulher e os filhos e o que acabará fazendo com ele mesmo.
ARGAN
Você tem é implicância com ele! Mas vamos ao fato: que devemos fazer quando adoecemos?
BERALDO
Nada.
ARGAN
Nada?
BERALDO
Nada. Nada de ficar em repouso. Quando deixamos agir a natureza, ela se safa docemente da desordem em que caiu. É a nossa inquietude, a nossa impaciência que estragam tudo; e quase todos os homens morrem dos seus remédios, não de suas doenças.
ARGAN
Mas é preciso concordar, meu irmão: pode-se ajudar a natureza por certos meios.
BERALDO
Santo Deus! Estas são idéias que gostamos de cultivar; em todos os tempos, surgem entre os homens belas fantasias em que acabamos acreditando, porque é agradável imaginá-las verdadeiras. Quando um médico fala de ajudar, de socorrer, de aliviar, de arrancar da natureza o que a aflige e de lhe dar o que lhe falta, de restabelecê-la no pleno gozo de suas funções, quando fala de corrigir o sangue, de temperar as entranhas e o cérebro, de esvaziar as glândulas, de sossegar o peito, de consertar o fígado, de fortificar o coração, de restabelecer e conservar o calor natural, e de ter segredos para prolongar a vida, está falando justamente do romance da medicina. Mas quando se vai à verdade da experiência, não se encontra nada disto: tudo é como os belos sonhos, que ao despertar nos deixam apenas a tristeza de ter acreditado neles.
ARGAN
Muito bem! Toda a ciência do mundo está guardada na sua cabeça! E você sabe mais que todos os grandes médicos do século!
BERALDO
Nos discursos e na ação, são pessoas diferentes esses seus grandes médicos: quando falam, são os mais hábeis do mundo; quando agem, são os mais ignorantes dos homens.
ARGAN
Ah! Pelo que vejo, você é um grande doutor, e eu gostaria que aqui estivesse algum desses senhores, para revidar seus raciocínios e baixar o seu topete.
BERALDO
Não me atribuo a tarefa de combater a medicina, meu irmão; cada um corra o risco de crer no que quiser. O que eu digo é entre nós; e eu gostaria de levá-lo, para divertir-se sobre o assunto, a ver alguma das comédias de Molière.
ARGAN
Aí está um bom impertinente, esse Molière, com suas comédias! E não deixa de ser um gaiato, quando zomba de gente honesta como os médicos!
BERALDO
Não é dos médicos que ele zomba: é do ridículo da medicina.
ARGAN
Fica-lhe muito bem meter-se a controlar a medicina! Aí está um belo joão-ninguém, a zombar de consultas e receitas, a atacar a corporação dos médicos, a exibir no teatro pessoas verdadeiras como os doutores!
BERALDO
Que é que você quer que ele exiba? Todas as profissões? Aí se exibem também todos os dias os príncipes e os reis, gente tão decente quanto os médicos.
ARGAN
Com mil demônios! Se eu fosse médico, me vingaria de sua impertinência! E quando adoecer, deixem morrer sem socorro esse senhor Molière! Eu o deixaria falando sozinho, não lhe receitaria a menor sangria, o menor clister! E lhe diria: morra, morra! Isto te ensinará a zombar da Faculdade!
BERALDO
Que cólera contra ele!
ARGAN
Estou com raiva, sim! É um tolo! E se os médicos têm juízo, farão o que eu digo!
BERALDO
Terá mais juízo do que os seus médicos, porque não lhes pedirá socorro.
ARGAN
Pior para ele, se não usa remédios.
BERALDO
Para isto tem suas razões; e sustenta que só os robustos e vigorosos podem fazê-lo, suportando os remédios e ao mesmo tempo a doença; quanto a ele, diz que só tem forças para carregar seu próprio mal.
ARGAN
Que razões tolas! Chega de falar desse homem: isto me esquenta a bílis e me faz piorar.
BERALDO
Para mudar de assunto, quero dizer-lhe: você não deve mandar sua filha para um convento pelo fato de ela mostrar suas pequenas repugnâncias. Para a escolha de um genro, não se deve seguir cegamente a paixão que o arrebata. Neste assunto, deve-se procurar atender um pouco às inclinações da jovem. Trata-se de uma escolha para toda a vida, e dela depende a felicidade do casamento.
_____
A peça pode ser baixada, em PDF, neste link.