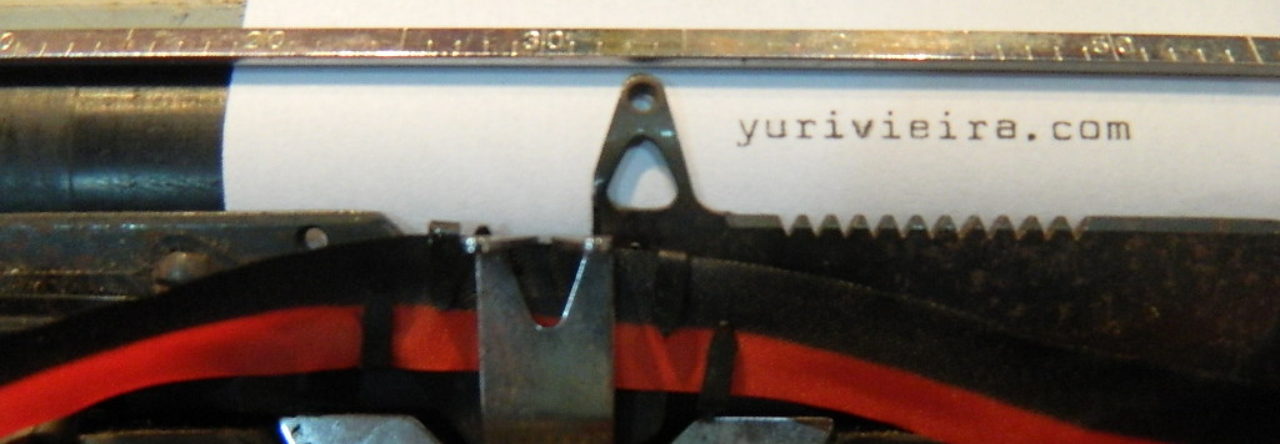« Depois que a crítica moderna descobriu, pela experiência de Auschwitz e Dachau, o realismo premonitório de Kafka, depois que foi levada a revelar o visionário como origem mal disfarçada de muito realista tido por exemplar – Hoffmann como fonte de Balzac – já não parece haver dúvida sobre a legitimidade do imaginário enquanto realismo. Resta apenas distinguir entre as modalidades realistas do próprio imaginário. Por que, com efeito, entre a linha de Kafka e a poética muriliana existem tantas diferenças? Admitindo o fato de que não advêm do maior ou menor valor estético nem da condição de poeta [Murilo Mendes], por oposição à do prosador, qual o núcleo estilístico responsável por essa divergência de caminhos, dentro da esfera geral do realismo imaginário?
« Talvez seja preciso fundar uma distinção entre duas vias do realismo imaginário: entre a literatura do fantástico, e a literatura do visionário. Do fantástico foi Sartre quem nos deu uma penetrante fenomenologia. A descrição do mundo fantástico descobre-lhe as leis, a primeira das quais é a que exige, para a sua realização, que esse mundo seja completo. Se não obedecer a esse caráter de universo completo – universo totalmente fantástico -, nenhum extraordinário conseguirá assumir a condição fantástica. Sartre exemplifica com o caso das fábulas, nas quais o insólito, dado entre tantas outras coisas não insólitas, não chega nunca a virar fantástico. Na fábula, um cavalo põe-se a falar: é um acontecimento extraordinário. Mas ele fala em meio a árvores, a rios, a seres e coisas que permanecem, da maneira mais natural, obedecendo às leis do mundo em sua absoluta normalidade. Por causa disso, percebe-se logo que o cavalo é tão somente máscara; compreende-se que é um homem disfarçado – e reconduz-se o pseudo fantástico ao sistema das leis do mundo. A fábula finge o fantástico; não o cria verdadeiramente. Se o cavalo falante fosse realmente fantástico, o universo inteiro também o seria, e cada coisa, cada ser violaria, tanto quanto o cavalo, a legalidade da natureza. O fantástico só se realiza quando o extraordinário abrange um universo completo. Porém desse universo, que rompe a norma do natural, qual é a lei suprema, a lei que autoriza a inversão das regras ordinárias? É a revolta dos meios contra os fins, responde Sartre. No mundo do fantástico, os objetos-meios se esquivam ao nosso uso, rebelam-se contra os fins que lhes são normalmente assinalados. No romance de que Sartre partiu para teorizar sobre o fantástico, um personagem tem um encontro no primeiro andar de um café. Chegado a este, ele vê perfeitamente que o primeiro andar ,existe, vê as mesas dos fregueses lá em cima – só não vê, por mais que a procure, a escada, ou elevador, que possa fazê-lo chegar lá. A escada é um meio rebelde, cuja rebelião adquire a forma da pura ausência. A impotência do herói diante desse meio-fantasma nada tem a ver, observa Sartre, com a impotência humana diante do absurdo. Na literatura do absurdo (em seu modelo perfeito, L’Étranger de Camus), em lugar da rebelião dos meios, acontece a pura ausência de fim, de qualquer fim. "Les hommes aussi sécretent de l’inhumain", diz Camus em Le Mythe de Sisyphe, e o inumano segregado é a consciência passiva, mecânica, que renunciou a elaborar significações e portanto a designar finalidades. O homem que constata o absurdo renuncia a todos os projetos; não reconhece mais nenhuma finalidade. O herói do mundo fantástico, entretanto, continua perseguindo os fins num universo que a insolência dos meios torna hostil, torna cruel, torna indecifrável – mas não absurdo. O mesmo Sartre separa Kafka de Camus, sob a alegação de que, no primeiro, o mundo não é sem sentido; é, isso sim, um mundo de sentido angustiantemente oculto, universo de cifras intraduzíveis. A cifra indecifrável, o texto ilegível, são manifestações da rebeldia dos meios naquilo que é o meio por excelência: a mensagem. As mensagens, objeto cuja existência se resume em comunicar, em consumir-se como ponte, como contato entre pólos, emissor e receptor, estão sempre descumprindo sua função, no plano do fantástico. Nunca transmitem normalmente: ora desaparecem, ora transmitem em falso, ora transmitem à pessoa errada. Texto rebelde, as mensagens, comunicação essencial entre os homens, correspondem no fantástico à sociedade burocrata, onde os próprios homens, num universo de meios rebeldes, se fazem meios. Os burocratas de Kafka são simples utensílios. Como utensílios, são os representantes de um mundo invertido, onde o sujeito de todas as finalidades, o homem, degrada-se em instrumento puro, enquanto os instrumentos recusam-se a servir.
« Se o fantástico é um universo completo, vale dizer, onde tudo é homogeneamente extraordinário, no plano do visionário o mundo é, diversamente, um universo misto. Misto ou híbrido, no universo visionário convivem o insólito e o natural o maravilhoso e o vulgar. O plano do visionário é eminentemente transitivo: nele, o espantoso irrompe e desaparece com a mesma naturalidade. Seu ingresso abrupto, e sua não menos brusca reconversão ao natural, são fenômenos freqüentes numa esfera em permanente processo. Em oposição ao estático do fantástico, o mundo visionário é vivamente dinâmico. Heterogêneo, aí se chocam vários elementos contraditórios, num procedimento dialético jamais reduzido à imobilidade. Nenhuma situação é fixa; nenhuma se exime de ser envolvida pelo processo. Assim, se os meios às vezes se rebelam, se os utensílios ameaçam trair sua função, nunca se pode dizer, do homem desse universo, que tenha perdido sem apelação a liberdade de sua consciência. O habitante do visionário não é, como o do fantástico, um burocrata medular. Ele perde-e-recupera, perde-mas-recupera o seu status humano de detentor supremo de finalidades. Tampouco habita um mundo sem significação (absurdo), ou de significação irremediavelmente oculta (fantástico). Por mais que vacile, por mais que se contradiga, atribui sempre ao mundo um sentido inteligível, de leitura parcial e não raro difícil, mas nunca impossível. A concepção do mundo do visionário é, portanto, aberta ao entendimento de uma lógica do acontecer, de uma razão histórica e de uma ordem temporal – embora não seja esta simplesmente linear.
« Se é possível estabelecer uma distinção entre as técnicas de representação derivadas dessa diferença de visão global, deverá ser dito que a literatura do fantástico se funda no uso de um estilo alegórico, ao passo que a literatura do visionário se encarna num estilo de natureza preferencialmente simbólica. O uso poético da alegoria foi definido, em grande profundidade, no ensaio de Walter Benjamin sobre o drama barroco alemão (publicado em 1928; redigido, como tese universitária, alguns anos antes). Suas conclusões foram em parte aproveitadas por Lukács num ensaio do livro Die Gegenwartsbedeutung des kritischen Realismus. Benjamim, embora oficialmente estudando apenas a tragédia barroca, na realidade desenvolveu uma teoria do estilo alegórico como fundamento da literatura de vanguarda contemporânea, com especial aplicação a Kafka, autor a quem dedicou outro de seus ensaios. Para ele, a alegoria fixa o sentido da temporalidade como certeza da morte e da decadência. No estilo alegórico, a significação de todo fluir está ligada aos motivos do pessimismo e à revelação do vazio da existência. "As alegorias são no reino das idéias o que as ruínas são no reino das coisas". No estilo alegórico, toda a significação do real se encontra na caducidade, na "paixão do mundo" em que se transforma a História como pura vocação para o nada; e por isso mesmo, toda singularidade, toda coisa, pessoa ou relação pode vir a representar qualquer coisa: pois o mundo profano, mundo sem sentido, embaralha as significações em virtude da sua completa privação de valores. As relações da literatura do fantástico com o estilo alegórico são patentes. Benjamim cita as palavras do próprio Kafka: "A mais profunda das experiências vividas é a de um mundo rigorosamente sem sentido, que exc1ui toda esperança, e que é o nosso mundo, o mundo do homem, do homem burguês contemporâneo". Kafka concebe o universo como um sem-sentido. Benjamim insiste numa interpretação antibrodiana de Kafka. Segundo sua linha de análise, Kafka é um ateu, não do tipo progressista, que afasta Deus do mundo para liberar este último do controle transcendente, mas sim – como nota Lukács – do tipo niilista que imagina um mundo abandonado por Deus para figurá-lo inteiramente despojado de significação, e sem nenhum vislumbre consolador. O Deus de Kafka, os juízes supremos de O Processo, a administração de O Castelo, são "a transcendência das alegorias kafkianas: o nada" (Lukács). Esse nada transcendente é o fundamento único de todo existente; em conseqüência, mesmo sendo um observador, um narrador de extraordinária vividez no detalhe, na minúcia de cada cena, Kafka não nega com isso a constatação da ausência de sentido deste mundo, a que um transcendente aniquilado e aniquilador retirou para sempre qualquer significação. Tudo neste nosso mundo é, para Kafka, fantasmagórico. A realidade concreta não passa de espectro. Eis a razão porque mesmo a cena mais banal desperta tanta atenção de Kafka – precisamente por seu caráter de pesadelo, de sonho absurdo, de história do outro mundo, em suma: de episódio fantástico. A transcendência, sendo nada, aniquila o sentido deste mundo e dos projetos humanos. A consciência alegórica, que se representa esse universo, é prisioneira e passiva, consciência congelada e melancólica, privada de iniciativa e de liberdade. O surgimento do "mundo invertido" é o sintoma corrente da subtração da finalidade (subtração do projeto humano) a que a transcendência submeteu a terra. A consciência antropomórfica da angústia vê isso como "rebelião dos meios". O estilo fantástico ancora nessa visão, já descrita por Sartre. A literatura do absurdo ultrapassa a consciência do mundo sem sentido em sua forma antropológica, de modo que, em lugar de representar uma rebelião dos utensílios, simplesmente se representa esse universo na própria razão da aparente revolta dos meios, ou seja: na sua absoluta carência de sentido. Mas, a partir da apreensão, pela consciência, do sintoma da rebelião dos utensílios e da metamorfose do homem sem projeto em simples instrumento, tudo aparece como insólito, ainda o mais banal e mais vulgar, porque o universo em que essa "rebelião" se dá, o mundo em que irrompe essa inversão da legalidade natural, é um mundo fechado, completo, homogeneamente fantástico. Porque tudo parece estranho, cada cena e cada singularidade provoca intensamente a atenção do narrador. A vividez narrativa de Kafka – a lucidez minuciosa de seu estilo – não é portanto casual. Em relação à alegoria, base da literatura do fantástico, esse amor pelo detalhe não é uma contingência: também ele faz parte da essência da alegoria, e igualmente encontra razão no próprio núcleo do fantástico.
« A técnica da representação simbólica já pertence a uma outra visão. O símbolo é, goetheanamente, o universal no concreto. Em termos hegelianos e lukacsianos, confunde-se com a manifestação no estilo da categoria estética da particularidade, que é o ponto nodal do processo dialético e da passagem do singular ao universal (e vice-versa). Particular, típico ou simbólico será o personagem (ou a imagem lírica) que, sem deixar de oferecer características concretas e presença material, representa a concentração, num exemplo, das tendências gerais do dinamismo histórico e da temporalidade objetiva. E porque essas tendências raramente estão isentas de contradição, o típico simbólico não sustenta a figuração de um mundo homogêneo, mas sim de um universo heterogêneo, campo de contrários, área mista, terreno onde coexistem diversos pólos opostos em contínuo movimento e variadas posições.
« A distinção entre uma literatura do fantástico e uma literatura do visionário está potencialmente confirmada pelos modernos estudos a que, sob a influência do processo de revisão do maneirismo como estilo cultural, a crítica moderna submeteu o conceito de literatura (e de arte) do grotesco. Exponencial, entre esses estudos, é o livro de Wolfgang Kayser, Das Groteske, de 1957. Kayser propôs a arte grotesca como revelação de um mundo sem sentido, e da desorientação humana frente a ele. As deformações grotescas indicariam a insignificação do mundo. Por isso mesmo, as distorções que, por mais aberrantes, ainda possuam certa orientação satírica, derivada do desejo de censurar os desvios de conduta e os vícios da ação do homem, não seriam verdadeiramente grotescas. O universo infernal de Bosch, por exemplo – que encontra sentido numa interpretação cristã do ser – não configura o grotesco autêntico, exatamente porque Bosch, por mais que pinte aberrações, é ainda senhor de uma compreensão e de uma inteligência do mundo; ao passo que o universo de Brueghel, já liberado de coordenadas explicativas, denunciaria, não o infernal (que supõe o celestial), mas sim o puro sinistro (que só supõe o absurdo). Em nossos termos, Bosch, pintor do pecado, seria um visionário; quanto a Brueghel, deformador solitário, intérprete sem chave conhecida da existência, seria já um fantástico. Bosch, sobrevivência medieval, ainda detém a segurança da visão cristã; Brueghel, artista problemático do estilo problemático que foi o maneirismo, já não conserva nem mesmo o refúgio de uma tal certeza. Aproveitando o exame de Kayser, é possível distinguir de forma equivalente entre Hoffmann e Kafka, ou seja, entre as alucinações do romantismo e as fantasmagorias da literatura moderna.
« Seria fácil demonstrar que essa fronteira se dá também na arte contemporânea. Depois do cortante estudo de Sartre sobre Wols (em Situations IV, 1964, originalmente prefácio a um volume de desenhos e aquarelas do pintor), seria tranqüilo repetir, entre Wols e Klee, o mesmo jogo diferenciador que se armou entre Brueghel e Bosch. Com efeito: para Paul Klee, para além da aparência sensível dos objetos, o ato de criação artística estabelece um comércio vivo entre pintor e modelo, de modo que um revela o outro, ambos participantes de uma mesma totalidade dinâmica. "Le Voyant est chose vue, la Voyance s’enracine dans la visibilité", diz Sartre: o pintor supera a aparência sensível imediata percebendo uma união de essência entre ele próprio e seu modelo; e, simultaneamente, o mundo exterior lhe fornece essa visão, em que objeto e sujeito devolvem um ao outro o seu reflexo. As formas abstratas são para Klee o resultado de uma contínua observação da natureza; mas a grande revelação do cosmos ao artista é a de que todos os seres podem servir de símbolo de um processo, de signo do movimento do universo, que o pintor descobre em si e prolonga por sua obra. Desse ângulo, o ser se define pela praxis criadora. Parte de um tal todo, sua participação é funcionalmente ativada pelo artista. A arte de Klee, agudamente denominada "realismo operatório", é uma disciplina onde se impõe a consideração da função dinâmica sobre a da forma acabada, onde "se aprende a reconhecer as formas subjacentes, a pré-história do visível" (Jean-Louis Perrier). Para Klee, o mundo é um perpétuo a fazer: visão cristã e fáustica da realidade. A seu lado, Wols é um nirvanista oriental, um fugitivo de toda ação. Seus preceitos são a apologia da passividade: "a cada instante, em cada coisa, existe a Eternidade"; "quando se vê, não é preciso nos encarniçarmos sobre o que se poderia fazer com o que se vê, mas apenas ver o que é". O mundo de Wols não é uma totalidade que o artista contribui para unificar, é uma unidade incriada, "feita" de uma vez por todas. Klee age sobre o ser; Wols padece os objetos. A teoria do conhecimento de Wols, de colorido ético-oriental, é precisamente a atitude epistemológica de Schopenhauer, de quem Cassirer disse genialmente que foi a primeira a substituir a apreensão do real pelo padecimento do mundo. O indivíduo, o homem, a ordem reconhecida das coisas, tudo perde com Wols a sua identidade originária; tudo se dana e se aniquila. O visionário Klee pinta o universo do múltiplo e dinâmico; o fantástico Wols, tornando todo objeto incaracterístico, indefine tudo para a submersão final no Uno estático, imovelmente existindo sobre a nossa abdicação do gesto, do querer e do fazer. A diferença entre ambos sela a sorte do abstracionismo contemporâneo, que passou de fáustico a ascético, do construtivismo à renúncia "lírica".»
_______
MURILO MENDES: ou a poética do visionário, in Razão do poema, de José Guilherme Merquior.