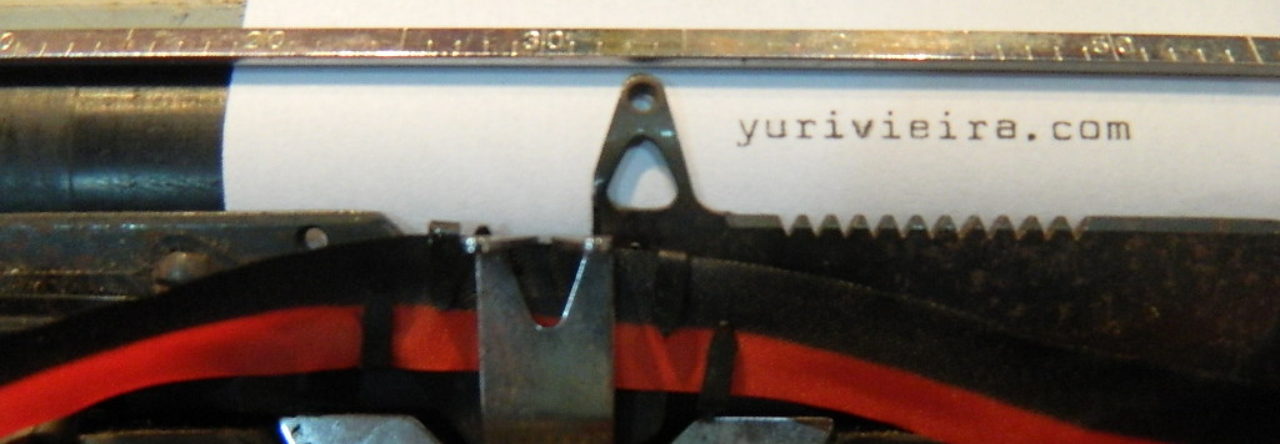Dez anos atrás, voltando de um evento qualquer, peguei uma carona com uma amiga advogada. Uma garota muito bonita a acompanhava — pensei que fosse modelo, mas descobri que se tratava de uma delegada. Conversa vai, conversa vem, eu quis saber como era a experiência de, em sendo uma mulher, lidar com uma cadeia cheia de delinqüentes embebidos em testosterona. Ela me disse que só houve dificuldades nos dois ou três primeiros meses. Depois tornou-se uma atividade razoavelmente tranqüila. Eu quis saber o que mudou.
— Quer mesmo saber?
— Claro.
— Cá entre nós?
— Sim. Boca de siri.
Ela suspirou, hesitou por alguns segundos e então abriu o jogo: — É que, depois de muita pressão, finalmente dei permissão aos carcereiros para darem umas porradas num ou noutro preso pelo menos uma vez ao dia. Aí os bandidos começaram a me respeitar.
Arregalei os olhos: — Sério? Você manda os caras baterem neles?
— Não! — indignou-se. — Não é desse jeito. Eu não mando nada. Apenas permiti que os carcereiros, caso se defrontem com uma situação difícil, façam o que achar conveniente. Eles já agiam assim antes de eu assumir a delegacia. Quando cheguei e proibi que fossem violentos, começaram as pequenas rebeliões. De três em três dias rolava alguma treta: colchões queimados, estupros, brigas terríveis, e coisas do tipo. Falavam o tempo inteiro em fugir, que minha delegacia era melzinho na chupeta, que por eu ser mulher podiam deitar e rolar. Eu ia lá atrás e os presos ficavam mexendo comigo, gritando palavrões, insultos, me ameaçando, me jogando comida, enfim, um desrespeito só.
— E você acha que não há outro jeito?
— Que jeito? O cárcere é provisório. É uma delegacia, não é uma prisão. Não dá para implantar um esquema que funcione a longo prazo. Você acha que aceitei isso de bom grado? Claro que não! Tive de conversar com vários delegados antes, tive de entender que o sistema é assim, que não há outro jeito.
— Toda delegacia é assim?
— Toda delegacia.
De vez em quando me lembro dessa conversa. Nesses momentos, vem a lembrança conjunta do conto “Feliz ano novo”, de Rubem Fonseca, cujo livro homônimo fora proibido em 1974. Ora, para os censores da época, tal narrativa não era uma previsão, mas, sim, o resultado de uma imaginação degenerada, que poderia influenciar os leitores de modo negativo. Do que se trata? Fonseca descreve um assalto a uma mansão durante uma festa de réveillon grã-fina. Os bandidos agem com uma barbárie inaudita. Chegam a matar dois homens — um diante de uma parede, outro diante de uma porta de madeira — apenas para provar, numa mórbida aposta, que, com um tiro de 12, a vítima pode grudar em uma daquelas superfícies graças aos inúmeros projéteis de chumbo. Fonseca, que havia trabalhado por um par de anos como comissário de polícia, já havia pressentido aonde chegaria o grau de violência e de selvageria dos criminosos. E, hoje, nós sabemos que sua previsão estava correta. A sociedade parece não compreender que esse estado de coisas não é fruto senão da progressiva e generalizada decadência moral. Durante séculos, o povo teve sua orientação ética derivada de suas crenças religiosas. Com a mídia, os artistas, os intelectuais, as universidades e os políticos a pregar insistentemente um humanismo ateu — algo demasiado abstrato para mentalidades simplórias ou meramente ancoradas nas necessidades materiais — isso quando esses guias iluminados não se limitam à pregação ou do hedonismo mais descarado ou de ideologias alienantes, nada sobra para refrear, nessas mentalidades, os impulsos mais abjetos. Quando a força não é balizada por nenhum espírito, apenas outra força pode com ela.