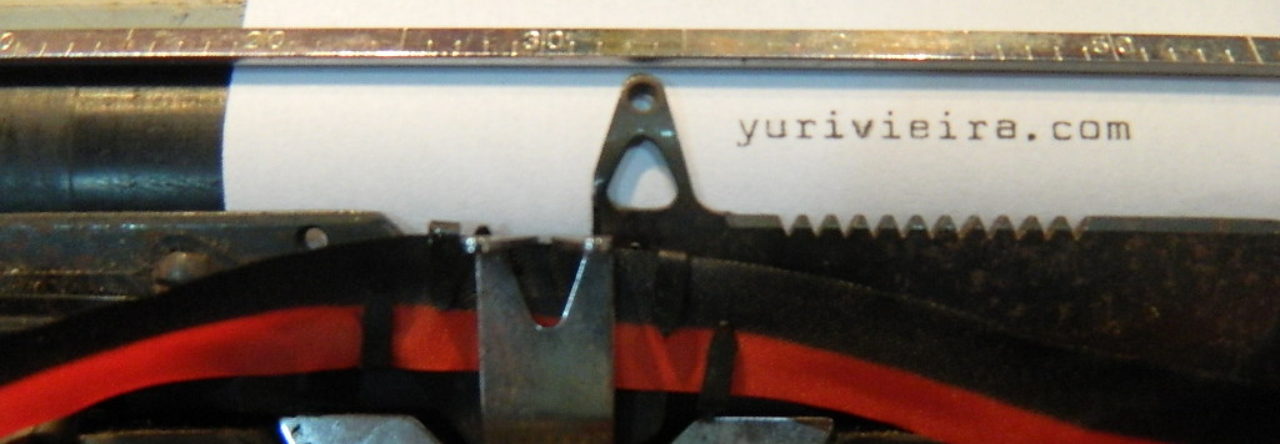Cansado dos constantes atritos com a esposa, Júlio decidiu convidá-la a fazer um cruzeiro pelas ilhas do Pacífico: uma viagem daquele tipo, acreditava, poderia devolvê-los a um estado pós-Lua de Mel. Marilda ouviu a proposta, meditou por alguns momentos e a aceitou: talvez ele tivesse razão e novos ares iriam restaurar um relacionamento já tão gasto. Sim, no fundo, o problema que vinham enfrentando era o mais banal, o mais corriqueiro de todos: enquanto a esposa queixava-se da desatenção e do egoísmo do marido, ele, que era um argentino radicado no Brasil, ya estaba podrido com tantas reclamações: “Ela não me deja en paz! Vive pegando no meu pé!”.
— Comprei o pacote! Serán dos semanas en un navio! — anunciou Júlio, pouco antes do início das férias.
E, de fato, três semanas mais tarde, partiram. Os primeiros dois dias de viagem foram excelentes: assistiram ao pôr-do-sol do convés, jantaram à luz de velas, ouviram música ao vivo, dançaram e, no segundo dia, até mesmo transaram. Duas vezes! De manhã e à noite. Sim, parecia promissor.
— Foi a melhor idéia que você já teve, Júlio!
Mas, no terceiro dia, logo após Marilda reclamar da toalha molhada sobre a cama, as coisas começaram a desandar. Júlio já não conseguia ficar mais do que quinze minutos no camarote. Depois da toalha, ouviu sobre os chinelos, a “bagunça da mala”, a temperatura do ar-condicionado, sobre seu inútil “inglês de Tarzan”, como se o dela fosse melhor, e assim por diante. Sabia que, em seguida, seria o cigarro, a sunga, a roupa suja, a escova de dentes, o carregador do celular e quaisquer outros pretextos descobertos ao momento. Por mais que tentasse vigiar a si mesmo, ele sempre se surpreendia com os novos defeitos que a esposa encontrava nele. Marilda era extremamente detalhista: nada lhe escapava! Por isso, Júlio decidiu passar a maior parte do tempo ou no bar, ou à beira da piscina. E o pior: notou que a escolha entre esses dois lugares estava condicionada à presença da mulher mais linda que já vira na vida: uma loira totalmente Barbie, de olhos grandes, lábios fartos, nariz delicado e arrebitado, cabelos compridos, pernas longas, seio hipnótico, corpo longilíneo, uma verdadeira deusa. Se ela estava no bar, era ali que ele ficava. Se ela estava tomando sol, ele escolhia a piscina. Ficava admirando-a horas a fio por trás dos óculos escuros. No quinto dia, porém, ele percebeu que ela também o notara. E o mais incrível: quando o via, ela lhe sorria! Infelizmente, Júlio, que era mais baixo que a esposa, não tinha uma autoestima das melhores e, por isso, sentia-se incapaz de qualquer aproximação. É óbvio que aquela mulher, mais alta ainda que Marilda, devia ser uma modelo européia e jamais se interessaria por ele.
— Você está me evitando!! — berrou Marilda, na tarde do sétimo dia.
— Yo? Claro que não, cariño!
— Tá sim! E aposto que já está de olho em alguma sirigaita.
Como ele nada respondesse a essa acusação, a mulher, subindo nos tamancos, se enfureceu:
— Seu desgramado! Eu sabia!
E começou a lhe atirar todo objeto que estivesse ao alcance. O camarote se encheu de cacos e de coisas quebradas. Até o iPhone dele foi trincar-se de encontro à parede. Ao ver isso, Júlio, embora já fosse demasiado tarde, decidiu se defender:
— Marilda! Pelo amor de Dios! Você realmente acha que eu iria atrás de outra mulher logo neste cruzeiro? Eu vim aqui por sua causa! Por nossa causa!
— Eu te conheço muito bem! — esbravejou ela. — Se não foi atrás de ninguém, é só porque você morre de vergonha de ser baixinho!!
Ah, por essa ele não esperava. Desde que se conheceram, nove anos antes, ela jamais fizera qualquer alusão à diferença de altura entre eles. Por alguma razão inexplicável, talvez a intuição feminina, ela jamais se referira àquele fato, pois sentia que, se o fizesse, desencadearia um Armagedom. E foi justamente o que ocorreu:
— Cala essa boca! — berrou Júlio. — Cállate ahora!! Com quem você pensa que está falando?! El hombre aquí soy yo!
— Grande homem! — debochou a esposa, sorrindo sarcasticamente. Para quê… Júlio a tomou dos pulsos à força, puxou-a para si e, sob protestos e pedidos de socorro, deitou-a no colo e levantou-lhe a saia. Quando lhe deu a primeira e fortíssima palmada, chocados, de olhos arregalados, ouviram juntos o som de uma forte explosão. Ficaram paralisados, perdidos num limbo da realidade. Num primeiro momento, parecia que ele havia explodido a bunda dela com a palmada. Mas então veio o som de uma sirene e as luzes vermelhas. O navio adernou acentuadamente para a direita, derrubando-os da cama. Alguém gritou no corredor e, em seguida, pelos alto-falantes:
— Todos para o convés! O navio está afundando!
Apavorados e silenciosos, fugiram de mãos dadas pelo corredor, quase correndo pelas paredes. Os passageiros atropelavam-se, tomados pelo mesmo pânico. Por sorte, Júlio e Marilda estavam apenas um andar abaixo do convés, o qual alcançaram com relativa rapidez. Mas não foi o suficiente. Ninguém sabia o que estava ocorrendo, mas o céu azul, sem nuvens, a completa ausência de recifes ou corais, indicava que o acidente fora causado por algum vazamento de gás ou, quem sabe, até mesmo por uma bomba. O sol começava a esconder-se no horizonte. Sem sucesso, os marinheiros tentavam liberar os botes salva-vidas. Mas já era tarde, o rombo no casco certamente era enorme e, quando o casal deu por si, já estava dentro d’água. O navio desapareceu em menos de três minutos.
— Júlio!! — gritou Marilda, que nadava muito mal.
— Aqui! — tornou ele, que tentava subir sobre um grande baú de fibra de vidro.
Os passageiros e a tripulação se espalhavam pela superfície das águas, quase todos aos berros. Júlio não conseguiu afastar da mente a lembrança do filme Titanic: “Então foi assim”, pensava. Já sobre o baú, meteu os braços na água para levá-lo na direção dos gritos de Marilda.
— Marilda!!
— Aqui, Júlio! Aqui!!
Ele remou mais para a direita e a encontrou. Ao mesmo tempo, sentiu que alguém forçava o baú para o outro lado, tentando escalá-lo. Olhou naquela direção: era a belíssima loira.
— Help me, please! — disse ela, o olhar cheio de medo.
— Wait a second — respondeu e, já segurando as mãos de Marilda, tentava puxá-la para cima daquele salva-vidas improvisado. Contudo, por mais que se esforçasse, apenas fazia tombar o objeto.
— Vai logo, Júlio! — gritou então a esposa. — Será que nem pra isso você tem força?! Que droga de homem, viu.
Aquelas palavras converteram Júlio num iceberg. O iceberg que afundou Marilda. Sem esboçar qualquer sentimento, soltou-lhe as mãos e observou-a afundar no mar escuro:
— Adiós, Leonardo DiCaprio — disse o argentino à meia voz. E, voltando-se para o outro lado, deu as mãos para aquela beldade. Embora fosse mais alta, a mulher tinha corpo de modelo, era bem mais magra que sua esposa e, por isso, não houve maior dificuldade em puxá-la para cima do baú sem desestabilizá-lo. Juntos, remaram para longe do desastre, temendo que outras pessoas pudessem virá-los. Horas mais tarde, adormeceram um nos braços do outro, passando toda a noite assim. Na manhã seguinte, despertaram encalhados numa minúscula ilha deserta, dotada não mais que de cinco coqueiros.
Sete anos mais tarde, o novo veleiro da família Schürmann passava por ali. Heloísa, de pé no convés, apreciava o horizonte com um binóculo.
— Vilfredo! — gritou ela. — Acho que tem alguém pulando e gritando numa ilhota nesta direção.
— Deve estar pedindo ajuda. Pode ser um náufrago. Vamos lá.
O casal corrigiu a rota e rumou para o salvamento. Meia hora depois, ancoravam a uns cem metros da pequena praia. Na areia, distinguiram dois homens com longas barbas: um alto e loiro, e outro baixinho de cabelos castanhos. Apenas o mais alto pulava, gritando e agitando os braços, cheio de felicidade.
Vilfredo preparou o bote inflável e foi resgatá-los:
— O que aconteceu com vocês, meus amigos? — perguntou em inglês, assim que se encontraram.
— Nosso navio afundou anos atrás. Foi muito triste. Se não fosse pelo Júlio aqui, eu teria morrido.
Quando Vilfredo olhou para Júlio, notou que ele tinha a expressão mais triste deste mundo.
Fim.
Moral da história 1: Esposa, não encha tanto o saco do seu marido: num momento de crise, isso poderá até mesmo custar a sua vida.
Moral da história 2: Marido, por mais que ela o atormente, não seja desleal à sua esposa: do contrário, você poderá levar no rabo durante sete anos.
Moral da história 3: Travesti, nunca se esqueça de, numa viagem longa, levar um grande suprimento de hormônios femininos. Do contrário, caso você curta ser passivo, terá de se contentar em ser ativo: contra a vontade do outro parceiro…