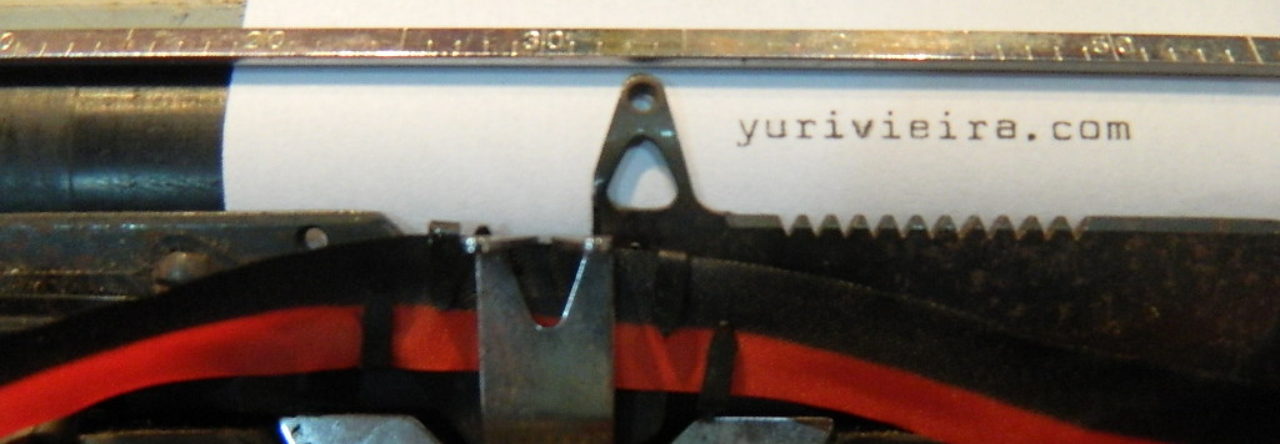Assim, por muito tempo, quando despertava de noite e me vinha a recordação de Combray, nunca pude ver mais que aquela espécie de lanço luminoso, recortado no meio de trevas indistintas, semelhante aos que o acender de um fogo de artifício ou alguma projeção elétrica alumiam e secionam em um edifício cujas partes restantes permanecem mergulhadas dentro da noite: na base, bastante larga, o pequeno salão, a sala de jantar, o trilho da alameda escura por onde chegaria o sr. Swann, inconsciente autor de minhas tristezas, o vestíbulo de onde me encaminhava para o primeiro degrau da escada, tão cruel de subir, que constituía por si só o tronco, muito estreito, daquela pirâmide irregular; e, no cimo, meu quarto, com o pequeno corredor de porta envidraçada por onde entrava mamãe; em suma, sempre visto à mesma hora, isolado de tudo o que pudesse haver em torno, destacando-se sozinho na escuridão, o cenário estritamente necessário (como esses que se veem indicados no princípio das antigas peças, para as representações na província) ao drama do meu deitar; como se Combray consistisse apenas em dois andares ligados por uma estreita escada, e como se fosse sempre sete horas da noite. Na verdade, poderia responder, a quem me perguntasse, que Combray compreendia outras coisas mais e existia em outras horas. Mas como o que eu então recordasse me seria fornecido unicamente pela memória voluntária, a memória da inteligência, e como as informações que ela nos dá sobre o passado não conservam nada deste, nunca me teria lembrado de pensar no restante de Combray. Na verdade, tudo isso estava morto para mim.
Morto para sempre? Era possível.
Há muito de acaso em tudo isso, e um segundo acaso, o de nossa morte, não nos permite muitas vezes esperar por muito tempo os favores do primeiro.
Acho muito razoável a crença céltica de que as almas daqueles a quem perdemos se acham cativas em algum ser inferior, em um animal, um vegetal, uma coisa inanimada, efetivamente perdidas para nós até o dia, que para muitos nunca chega, em que nos sucede passar por perto da árvore, entrar na posse do objeto que lhe serve de prisão. Então elas palpitam, nos chamam, e, logo que as reconhecemos, está quebrado o encanto. Libertadas por nós, venceram a morte e voltam a viver conosco.
É assim com nosso passado. Trabalho perdido procurar evocá-lo, todos os esforços de nossa inteligência permanecem inúteis. Está ele oculto, fora de seu domínio e de seu alcance, em algum objeto material (na sensação que nos daria esse objeto material) que nós nem suspeitamos. Esse objeto, só do acaso depende que o encontremos antes de morrer, ou que não o encontremos nunca.
Muitos anos fazia que, de Combray, tudo quanto não fosse o teatro e o drama do meu deitar não mais existia para mim, quando, por um dia de inverno, ao voltar para casa, vendo minha mãe que eu tinha frio, ofereceu-me chá, coisa que era contra meus hábitos. A princípio recusei, mas, não sei por que, terminei aceitando. Ela mandou buscar um desses bolinhos pequenos e cheios chamados madalenas e que parecem moldados na valva estriada de uma concha de são Tiago. Em breve, maquinalmente, acabrunhado com aquele triste dia e a perspectiva de mais um dia tão sombrio como o primerio, levei aos lábios uma colherada de chá onde deixara amolecer um pedaço de madalena. Mas no mesmo instante em que aquele gole, de envolta com as migalhas do bolo, tocou meu paladar, estremeci, atento ao que se passava de extraordinário em mim. Invadira-me um prazer delicioso, isolado, sem noção de sua causa. Esse prazer logo me tornara indiferente às vicissitudes da vida, inofensivos seus desastres, ilusória sua brevidade, tal como o faz o amor, enchendo-me de uma preciosa essência: ou, antes, essa essência não estava em mim, era eu mesmo. Cessava de me sentir medíocre, contingente, mortal. De onde me teria vindo aquela poderosa alegria? Senti que estava ligada ao gosto do chá e do bolo, mas que o ultrapassava infinitamente e não devia ser da mesma natureza. De onde vinha? Que significava? Onde apreendê-la? Bebo um segundo gole que me traz um pouco menos que o segundo. É tempo de parar, parece que está diminuindo a virtude da bebida. É claro que a verdade que procuro não está nela, mas em mim. A bebida a despertou, mas não a conhece, e só o que pode fazer é repetir indefinidamente, cada vez com menos força, esse mesmo testemunho que não sei interpretar e que quero tornar a solicitar-lhe daqui a um instante e encontrar intato à minha disposição, para um esclarecimento decisivo. Deponho a taça e volto-me para meu espírito. É a ele que compete achar a verdade. Mas como? Grave incerteza, todas as vezes em que o espírito se sente ultrapassado por si mesmo, quando ele, o explorador, é ao mesmo tempo o país obscuro a explorar e onde todo o seu equipamento de nada lhe servirá. Explorar? Não apenas explorar: criar. Está diante de qualquer coisa que ainda não existe e a que só ele pode dar realidade e fazer entrar em sua luz.
E recomeço a me perguntar qual poderia ser esse estado desconhecido, que não trazia nenhuma prova lógica, mas a evidência de sua felicidade, de sua realidade ante a qual as outras se desvaneciam. Quero tentar fazê-lo reaparecer. Retrocedo pelo pensamento ao instante em que tomei a primeira colherada de chá. Encontro o mesmo estado, sem nenhuma luz nova. Peço a meu espírito um esforço mais, que me traga outra vez a sensação fugitiva. E para que nada quebre o impulso com que ele vai procurar captá-la, afasto todo obstáculo, toda ideia estranha, abrigo meus ouvidos e minha atenção contra os rumores da peça vizinha. Mas sentindo que meu espírito se fatiga sem resultado, forço-o, pelo contrário, a aceitar essa distração que eu lhe recusava, a pensar em outra coisa, a refazer-se antes de uma tentativa suprema. Depois, por segunda vez, faço o vácuo diante dele, torno a apresentar-lhe o sabor ainda recente daquele primeiro gole e sinto estremecer em mim qualquer coisa que se desloca, que desejaria elevar-se, qualquer coisa que teriam desancorado, a uma grande profundeza; não sei o que seja, mas aquilo sobe lentamente; sinto a resistência e ouço o rumor das distâncias atravessadas.
Por certo, o que assim palpita no fundo de mim deve ser a imagem, a recordação visual que, ligada a esse sabor, tenta segui-lo até chegar a mim. Mas debate-se demasiado longe, demasiado confusamente; mal e mal percebo o reflexo neutro em que se confunde o ininteligível turbilhão das cores agitadas; mas não posso distinguir a forma, pedir-lhe, como ao único intérprete possível, que me traduza o testemunho de seu contemporâneo, de seu inseparável companheiro, o sabor, pedir-lhe que me indique de que circunstância particular, de que época do passado é que se trata.
Chegará até a superfície de minha clara consciência essa recordação, esse instante antigo que a atração de um instante idêntico veio de tão longe solicitar, remover, levantar no mais profundo de mim mesmo? Não sei. Agora não sinto mais nada, parou, tornou a descer talvez; quem sabe se jamais voltará a subir do fundo de sua noite? Dez vezes tenho de recomeçar, inclinar-me em sua busca. E, de cada vez, a covardia que nos afasta de todo trabalho difícil, de toda obra importante, aconselhou-me a deixar daquilo, a tomar meu chá pensando simplesmente em meus cuidados de hoje, em meus desejos de amanhã, que se deixam ruminar sem esforço.
E de súbito a lembrança me apareceu. Aquele gosto era o do pedaço de madalena que nos domingos de manhã em Combray (pois nos domingos eu não saía antes da hora da missa) minha tia Léonie me oferecia, depois de o ter mergulhado em seu chá da Índia ou de tília, quando ia cumprimentá-la em seu quarto. O simples fato de ver a madalena não me havia evocado coisa alguma antes que a provasse; talvez porque, como depois tinha visto muitas, sem as comer, nas confeitarias, sua imagem deixara aqueles dias de Combray para se ligar a outros mais recentes; talvez porque, daquelas lembranças abandonadas por tanto tempo fora da memória, nada sobrevivia, tudo se desagregara; as formas — e também a daquela conchinha de pastelaria, tão generosamente sensual sob sua plissagem severa e devota — se haviam anulado ou então, adormecidas, tinham perdido a força de expansão que lhes permitiria alcançar a consciência. Mas quando mais nada subsiste de um passado remoto, após a morte das criaturas e a destruição das coisas, sozinhos, mais frágeis porém mais vivos, mais imateriais, mais persistentes, mais fiéis, o odor e o sabor permanecem ainda por muito tempo, como almas, lembrando, aguardando, esperando, sobre as ruínas de tudo o mais, e suportando sem ceder, em sua gotícula impalpável, o edifício imenso da recordação.
E mal reconheci o gosto do pedaço de madalena molhado em chá que minha tia me dava (embora ainda não soubesse, e tivesse de deixar para muito mais tarde tal averiguação, por que motivo aquela lembrança me tornava tão feliz), eis que a velha casa cinzenta, de fachada para a rua, onde estava seu quarto, veio aplicar-se, como um cenário de teatro, ao pequeno pavilhão que dava para o jardim e que fora construído para meus pais aos fundos dela (esse truncado trecho da casa que era só o que eu recordava até então); e, com a casa, a cidade toda, desde a manhã à noite, por qualquer tempo, a praça para onde me mandavam antes do almoço, as ruas por onde eu passava e as estradas que seguíamos quando fazia bom tempo. E, como nesse divertimento japonês de mergulhar numa bacia de porcelana cheia d’água pedacinhos de papel, até então indistintos e que, depois de molhados, se estiram, se delineiam, se cobrem, se diferenciam, tornam-se flores, casas, personagens consistentes e reconhecíveis, assim agora todas as flores de nosso jardim e as do parque do sr. Swann, e as ninfeias do Vivonne, e a boa gente da aldeia e suas pequenas moradias e a igreja e toda a Combray e seus arredores, tudo isso que toma forma e solidez, saiu, cidade e jardins, de minha taça de chá.
_____
“Em busca do tempo perdido – volume 1 – No caminho de Swann”, de Marcel Proust, tradução de Mario Quintana.