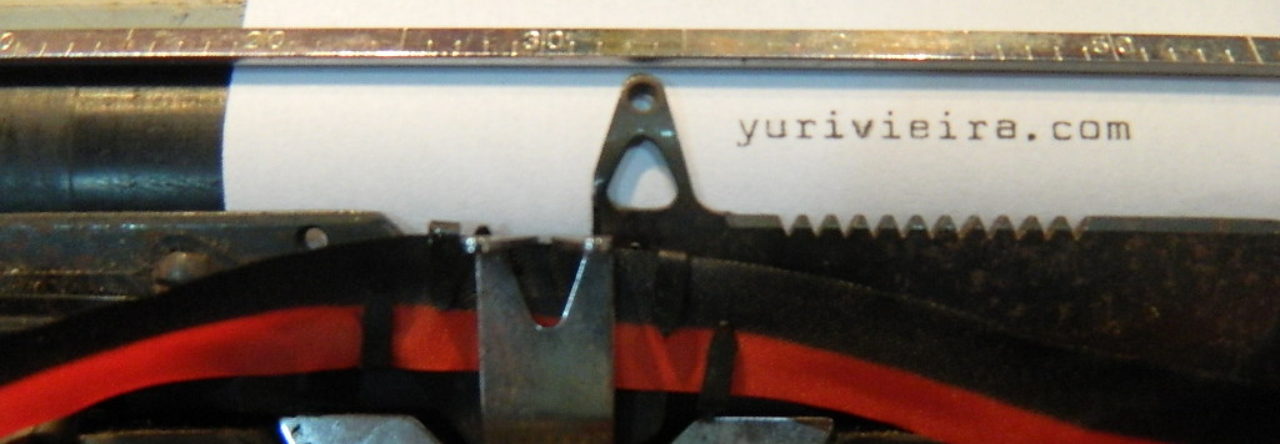Certo dia, descemos à adega com Wilcox, vimos os escaninhos vazios, onde em tempos idos havia muito vinho armazenado; uma ala apenas se encontrava bem abastecida; alguns vinhos ali tinham cinquenta anos de idade.
— Não houve nenhum acréscimo desde que Sua Senhoria partiu para o estrangeiro — disse Wilcox. — Uma boa parte desse vinho antigo vai se estragar se não for bebido. Deveríamos ter desistido das colheitas de 18 e 20. Tenho recebido várias cartas de comerciantes de vinhos a esse respeito, mas a duquesa diz que Lorde Brideshead é que deve decidir, e ele diz que é o duque, e Sua Senhoria manda falar com os advogados. E assim, nossas reservas vão minguando. Na proporção que isso vai, teremos suprimento para dez anos, mas onde estaremos nós?
Wilcox apreciou nosso interesse; experimentamos garrafas de todos os escaninhos, datadas desses serões tranqüilos passados na companhia de Sebastian; minha momentosa iniciação na arte de beber, ali eu semeei para a abundante colheita que me serviria de arrimo em muitos anos vazios de minha vida. Ficávamos os dois sentados no “parlatório pintado”, com as garrafas de vinho abertas em cima da mesa e três copos diante de cada um de nós; Sebastian descobrira um livro sobre a arte de degustar o vinho e nós seguíamos as instruções nos menores detalhes. Aquecíamos ligeiramente o copo até um terço, no calor da chama de uma vela, fazíamos o líquido girar, amornando-o com o calor de nossas mãos, erguendo-o de encontro à luz, aspirando-o, sorvendo-o, enchendo a boca de vinho, estalando a língua de encontro à abóbada palatina, fazendo-o tinir como uma moeda lançada sobre um balcão; jogávamos então a cabeça para trás, deixando-o descer gota a gota pela garganta.
Enquanto discutíamos suas qualidades, íamos mordiscando biscoitos Bath Oliver, depois passávamos para outra marca, voltávamos ao primeiro, pulávamos para outro, até misturar os três e confundir a ordem dos copos; perdendo a noção das coisas, trocávamos nossos copos, e afinal os seis ficavam enfileirados; muitas vezes a troca de garrafas ocasionava uma mistura de vinhos, por isso éramos obrigados a recomeçar tendo três copos limpos diante de cada um de nós, enquanto as garrafas se esvaziavam e nossos elogios se tornavam cada vez mais malucos e exóticos.
— …É um vinho leve e recatado como uma gazela.
— Parece um gnomo.
— Uma corça malhada na paisagem de uma tapeçaria.
— Como o som de uma flauta às margens de um lago.
— … Este aqui é um vinho que possui a sabedoria de um velho.
— Um profeta em uma gruta.
— …Um colar de pérolas num colo alvo.
— Como um cisne.
— Como o último dos unicórnios.
E, deixando a luz dourada das velas na sala de jantar, íamos nos sentar à beira da fonte, à luz das estrelas, mergulhando as mãos na água, ouvindo, embriagados, a água espadanando e cascateando nas rochas.
— Será preciso nos embriagarmos todas as noites? — perguntou Sebastian certo dia.
— Creio que sim.
— Eu também acho.
* * *
SEGUNDO TRECHO:
— Escute aqui, tenho muita coisa para contar, e prometi a um cara no Travellers uma revanche hoje à tarde. Quer jantar comigo?
— Está bem. Onde?
— Costumo ir ao Ciro.
— Por que não o Paillard?
— Não conheço. O convite é meu.
— Eu sei. Deixe-me escolher o jantar.
— Muito bem. Como é mesmo o nome do lugar? — Escrevi o nome para ele. — É um desses lugares típicos?
— Sim, pode ser incluído nessa categoria.
— Bem, será uma novidade. Encomende uma comida gostosa.
— É o que pretendo fazer.
Cheguei vinte minutos antes de Rex. Já que teria de passar a noite em sua companhia, pelo menos seria à minha moda. Lembro-me bem desse jantar, sopa de oseille, um linguado feito de maneira simples num molho de vinho branco, caneton à la presse, um soufflé de limão. À última hora, temendo que fosse simples demais para Rex, acrescentei caviar aux blinis. Quanto aos vinhos, incluí por conta dele uma garrafa de Montrachet de 1906, que naquela ocasião tinha atingido todo o seu bouquet, e um Cios de Bèze de 1904 para acompanhar o pato.
Naquela época a vida era fácil na França; ao câmbio da época, minha mesada dava para muita coisa e eu vivia folgadamente. Contudo, raramente jantava assim, e meus sentimentos para com Rex eram de boa paz, quando finalmente ele chegou e entregou seu casaco e seu chapéu com o ar de quem nunca mais esperava vê-los. Passeou o olhar desconfiado pela pequena sala escura, como se esperasse encontrar apaches ou um bando de estudantes bêbados. Mas havia apenas quatro senadores comendo no mais completo silêncio com os guardanapos amarrados por baixo das barbas, já o via contando mais tarde na roda de seus amigos do comércio: ” … um conhecido meu, sujeito interessante; estudando pintura em Paris. Levou-me a uma tasca, uma’espécie de restaurante, um desses lugares por que a gente passa sem reparar, mas onde comi como poucas vezes em minha vida. Encontrei lá uma meia dúzia de senadores; como vocês vêem, o lugar era bem freqüentado. Nada barato, também”.
— Alguma notícia de Sebastian? — perguntou ele.
— Só dará sinal de si — disse eu — quando precisar de dinheiro.
— Foi um azar dar um fora desses. Tinha esperanças de ser bem sucedido nesse caso, e assim melhorar minha posição noutro setor.
Era evidente que ele desejava falar de seus próprios problemas; mas o assunto podia esperar, pensei eu, a hora do conhaque, aquele instante de tolerância e satisfação, quando a atenção fica embotada, e o espírito funciona apenas pela metade. Mas no momento culminante em que o maitre d’hotel virava os blinis na frigideira, e dois empregados menos graduados preparavam as grelhas, falaríamos sobre minha pessoa.
— Você ficou muito tempo em Brideshead? Falaram de mim depois que eu parti?
— Se falaram de você? Meu velho, fiquei saturado. A marquesa dizia ter “remorsos” da maneira como o tratara. Ela não o poupou, segundo me consta, no momento da despedida.
— Chamou-me mau e cínico.
— Palavras duras.
— Desde que não me chamem de empadão de pombo, e me comam, que me importa?
— Quê?
— É um ditado.
— Ah! — A mistura do creme e da manteiga quente parecia transbordar, e as contas verde-mar do caviar nadavam naquele molho branco salpicado de manchas douradas de manteiga.
— Gostaria de um pouquinho de cebola picada com isso — disse Rex. — Um sujeito entendido falou-me que dá mais gosto.
— Experimente primeiro sem — disse eu. — E conte-me o que falaram de mim.
— Bem, naturalmente, Greenacre, ou coisa que o valha, aquele professor infecto, caiu no ostracismo. A satisfação foi geral. Depois que você foi embora, ele ficou sendo o favorito. Desconfio que foi ele quem levou nossa castelã a dar-lhe o bilhetinho azul. Nós tínhamos de agüentá-lo, mas Julia acabou ficando tão saturada que o desmascarou.
— Julia fez isso?
— Bem, você compreende, ele começou a se intrometer em nossa vida. Julia descobriu que ele era um impostor, e, uma tarde em que Sebastian estava alto, aliás, era esse seu estado habitual, ela conseguiu arrancar-lhe toda a história da tal viagem. E foi esse o fim de Mr. Samgrass. Depois disso, a marquesa começou a achar que talvez tivesse sido injusta com você.
— E a encrenca com Cordélia?
— Isso eclipsou tudo o mais. Aquela pirralha é um fenômeno. Havia uma semana que ela vinha arranjando uísque para Sebastian debaixo do nosso nariz. Ninguém conseguia descobrir aonde ele ia buscá-lo. Foi aí que a marquesa entregou os pontos.
Depois dos blinis, a sopa estava uma delícia, quente, magra, picante, leve.
— Charles, vou contar-lhe uma coisa que mamãe Marchmain ainda não disse a ninguém. Ela está muito doente. Pode empacotar a qualquer momento. George Anstruther a examinou no outono e deu-lhe dois anos de vida.
— Como é que você sabe?
— Por ouvir dizer. Mas nas trapalhadas atuais em que a família dela anda metida, eu não lhe daria um ano. Conheço em Viena o homem indicado para o caso dela. Ele pôs Sônia Bamfshire de pé, quando todos, inclusive Anstruther, tinham dado o caso como perdido. Mas mamãe Marchmain não quer tomar providências. Deve ser por causa de sua maluquice religiosa, não quer cuidar do corpo.
O linguado fora preparado com tão rara simplicidade, que passou despercebido de Rex. Comemos ao som do chiar da grelha, dos ossos roídos, do gotejar do sangue e do tutano, do bater da colher ao regar as fatias finas de peito. Fizemos então uma pausa de um quarto de hora, enquanto eu bebia meu primeiro cálice de Cios de Bèze e Rex fumava seu primeiro cigarro. Recostando-se, ele soprou a fumaça por cima da mesa e observou: — Você sabe, a comida aqui é bem regular; era o caso de alguém patrocinar o lugar e transformá-lo.
Depois, voltou a falar dos Marchmain:
— Vou contar-lhe outra coisa também; se não tomarem cuidado, não tardarão a ficar com as finanças abaladas.
— Julguei que fossem riquíssimos.
— Bem, são ricos, mas o dinheiro deles está parado. O dinheiro se desvaloriza, gente nessas condições está mais pobre agora que em 1914, e os Flyte não compreendem isso. Os advogados que administram os bens da família parecem achar mais prático dar todo o dinheiro que eles pedem, e calarem-se. Veja a vida que levam: mantendo Brideshead e Marchmain House com todo o luxo; matilhas de cães de caça, os aluguéis não são aumentados, não despedem ninguém, empregados antigos às dúzias sem fazer nada, tendo por sua vez criados para servi-los, e, além disso, o velho mantendo outra casa, e com o mesmo estadão.
“Você sabe quanto eles devem?”
— Claro que não.
— Só em Londres vai a perto de cem mil. Ignoro o montante de suas dívidas em outros lugares. Bem, você compreende, é um bocado de dinheiro para quem não sabe empregá-lo. Em novembro passado subia a noventa e oito mil. São essas as histórias que eu ouço contar.
Era isso que ele ouvia, pensei eu, falar de doenças mortais e dívidas. Deliciei-me com o borgonha.
Lembrava-me o que Rex parecia ignorar, a idade e beleza do universo, a sabedoria adquirida pela humanidade em luta contra suas paixões. Por acaso, tornei a encontrar esse mesmo vinho durante o primeiro outono da guerra, quando almoçava com meu importador de vinhos na St. James Street; com o passar dos anos ficara mais suave e mais fraco, mas conservava ainda a pureza e o sabor dos tempos áureos, e transmitia ainda a mesma mensagem de esperança.
— Não quero dizer com isso que eles venham a ficar na miséria; o velho terá sempre uma renda de seus trinta e tantos milhões por ano, mas o negócio está para estourar, e quando a alta sociedade resolve fazer economias, são as moças que pagam. Gostaria de resolver a questão do dote antes de isso acontecer.
Ainda não chegáramos ao conhaque, e já estávamos falando a respeito dele. Eu me dispunha a ouvi-lo, mas queria uma trégua de uns vinte minutos ainda. Por isso, procurei dar-lhe o mínimo de atenção possível, e preparei-me para apreciar a comida; mas frases esparsas vinham atrapalhar meu bem-estar, fazendo-me voltar a esse mundo cruel e ganancioso em que Rex vivia. Em resumo, ele desejava uma mulher, mas queria o melhor partido que pudesse encontrar, e não estava disposto a pagar um preço muito alto.
— …Mamãe Marchmain não vai comigo. Não me interessa. Não é com ela que eu quero casar. Ela não tem coragem de dizer abertamente: “Você não é um gentil-homem, mas apenas um aventureiro das colônias”. Diz que vivemos em mundos diferentes. Está certo, mas Julia gosta do meio em que eu vivo… Depois vem com essa história de religião. Nada tenho contra a dela; no Canadá não ligamos muito aos católicos, mas isso é diferente; aqui na Europa há católicos muito prosas. Está bem, Julia pode ir à igreja sempre que quiser. Não serei eu a impedi-la. Aliás, ela não liga dois caracóis, mas eu acho bom uma moça ter princípios religiosos. E eu ainda concordo que ela eduque os filhos na religião católica. Farei todas as “promessas” que eles quiserem… Depois vem com essa história de meu passado. “Mal o conhecemos.” Aliás, ela sabe até demais. Você talvez saiba que eu tenho um caso já há uns dois anos.
Eu não o ignorava. Aliás, quem conhecia Rex ficava logo a par de sua ligação com Brenda Champion. Essa era a explicação para a diferença que existia entre a carreira de Rex e a dos outros corretores; a razão de ser de suas partidas de golfe com o príncipe de Gales, do seu título de sócio do Bratt, e de suas relações cordiais com membros da Câmara dos Comuns. Em sua primeira aparição, os chefes de seu partido não se referiram a ele como: “Olhe, aquele ali é o jovem e futuroso representante de North Gridlev, que fez um discurso tão brilhante sobre congelamento de aluguéis”, mas: “Lá vai o último caso de Brenda Champion”. Isso contribuiu muito para aumentar-lhe o prestígio entre os representantes de seu sexo; quanto ao sexo frágil, ele não tinha dificuldade em conquistá- lo com seu encanto pessoal.
— Bem, está tudo acabado. Mamãe Marchmain muito delicadamente não tocou no assunto, limitou-se a dizer que “falavam de mim”. Que espécie de genro queria ela? Um monge de fancaria como Brideshead? Julia sabe de tudo e não se importa; logo, ninguém tem nada a ver com isso.
Depois do pato, veio uma salada de agrião e chicórea, com um leve tempero de alho verde. Procurei concentrar minha atenção na salada. Consegui durante algum tempo pensar apenas no soufflé. Chegou enfim a hora do conhaque, o momento apropriado para confidências. — … Julia está com quase vinte anos. Não quero esperar pela maioridade. De qualquer maneira, pretendo fazer a coisa às direitas… um casamento em grande estilo… Tenho de defender os interesses dela na questão do dote. Por isso, se a marquesa se fizer de tola, eu vou catequizar o velho. Segundo dizem, ele estará de acordo com tudo que possa vir a aborrecê-la. No momento, ele está em Monte Carlo. Tinha planejado ir até lá depois de deixar Sebastian em Zurique. Por isso é que estou danado com seu desaparecimento.
Rex não gostou do conhaque. Era transparente e claro, e a garrafa não veio suja nem tinha algarismos da era napoleônica. Devia ser um ou dois anos mais velho que Rex, e fora engarrafado há pouco tempo. Serviram-no em cálices muito finos do feitio de tulipas, de proporções modestas.
— Sou entendido em conhaque — disse Rex. — Este não tem boa cor. Além disso, não consigo sentir o gosto neste dedal.
Trouxeram-lhe um balão do tamanho de sua cabeça. Ele fez com que o aquecessem sobre uma lamparina de álcool. Depois rodou o vinho delicioso, mergulhou o rosto no vapor e declarou que em casa dele poria soda num conhaque daquela marca.
Então, envergonhados, trouxeram num carrinho lá de seu esconderijo um garrafão mofado reservado para clientes do tipo de Rex.
— Isto sim — disse ele, despejando o conteúdo até deixar marcas escuras na borda do copo. — Eles têm sempre uma reservazinha escondida, que mostram apenas quando a gente faz barulho. Sirva-se.
— Estou satisfeito com este aqui.
— Se você não é mesmo apreciador, seria um crime bebê-lo.
Acendeu o charuto, e refestelou-se na cadeira com um ar de profunda satisfação; eu também estava satisfeito, mas por motivos diferentes. Estávamos ambos contentes. Ele falava de Julia, sua voz parecia vir de muito longe, confusa, como o latido de um cão perdido na distância numa noite silenciosa.