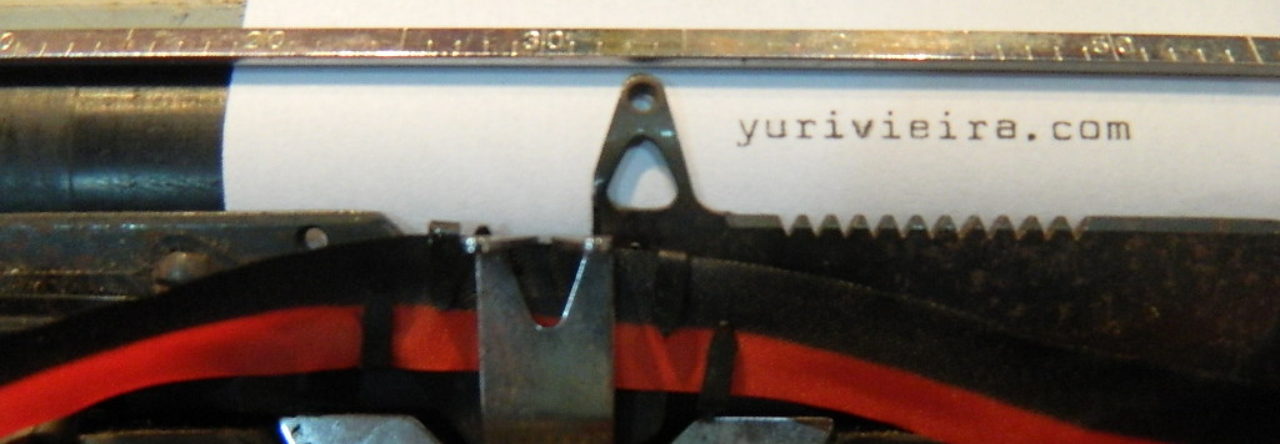Conheço alguns galeristas que costumam reclamar da baixíssima procura por obras de arte no mercado brasileiro. Porque, dizem eles, embora a oferta de boas obras seja grande, as vendas são ínfimas. Não duvido. (Quem escreve livros sabe disso muito bem.) No entanto, um deles, em vez de observar com maior atenção as causas do fenômeno, prefere chegar àquele remédio equivocado: “o governo deveria financiar os coitados dos artistas”. Ora, ora. Mais um querendo que a doença tome conta da paciente sociedade…
Deixando de lado questões secundárias como as que afirmam que falta ao povo educação estético-artística – porque o único problema que isso acarretaria seria a compra de obras de arte sofríveis (norte-americanos têm dinheiro, educação e são capazes de comprar as besteiras caríssimas do Damien Hirst) – a verdade é que nós não compramos muitas obras de arte pela mesma razão que não compramos sapatos italianos, vinhos franceses ou uma Jacuzzi, isto é, graças à política econômica do governo nas últimas décadas, a qual impede a formação de poupança. No aspecto econômico, estamos presos à Matrix Keynesiana. É ela que não nos deixa poupar dinheiro, é ela que faz o governo gastar mais do que arrecada, aumentando a dívida pública e a consequente extração de nosso sangue financeiro mediante impostos, taxas e inflação. Querer que o governo dê dinheiro a um setor qualquer da sociedade, ainda que aos “coitados” dos artistas, seria apenas exigir que ele retire dos demais ainda mais dinheiro na forma de tributos. E, quando torna-se impossível poupar dinheiro – são tantos os furinhos no nosso saco de moedas -, fica muito difícil gastar com coisas belas, porque primeiro é preciso forrar o estômago e garantir um teto sobre as cabeças das crianças. Estética? Cultiva-se um vaso de flores – van Gogh sabia melhor do que ninguém que, na pobreza, não há nada mais bonito.
Ok, ok. Então o problema é a teoria econômica de Lord Keynes. Mas, afinal, o que isso quer dizer? Bem, como este é um site de cultura, e não de economia, usarei dois vídeo-clipes premiados de rap (sim, rap!) do site Econ Stories. Assista-os, conheça qual é a batalha ora em vigor, e perceba que há uma saída. (São legendados em português. É preciso clicar em “CC” para ver as legendas.)
_____
Publicado no Digestivo Cultural.