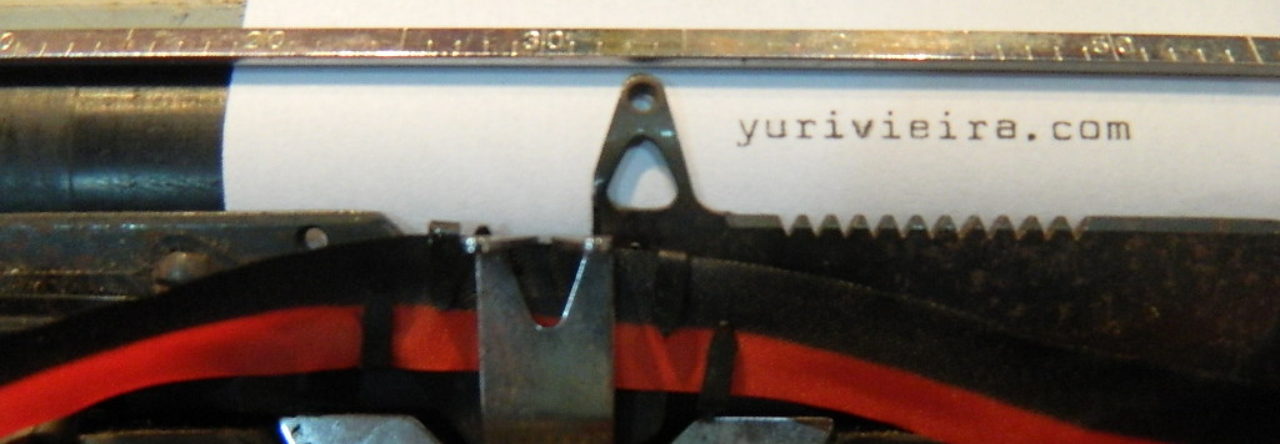Gabriel Syme não era apenas um detetive que pretendia ser poeta, era um poeta que se tornara detetive. Nem tampouco era hipócrita o seu ódio à anarquia. Ele era daqueles que cedo na vida são levados a tomar uma atitude demasiado conservadora por causa da loucura confusa da maioria dos revolucionários. Não chegara a ela devido a uma calma tradição, a sua respeitabilidade era espontânea e súbita, uma revolta contra a revolta. Provinha de uma família de caturras, na qual os membros mais idosos tinham as ideias mais modernas. Um dos seus tios passeava sempre sem chapéu, outro fizera uma tentativa, mal sucedida, de passear com chapéu e sem mais nada. O pai cultivava a arte e a realização de si próprio, a mãe dedicava-se à simplicidade e à higiene. Daí resultou que a criança, durante os seus primeiros anos, desconheceu qualquer bebida entre os extremos do absinto e do cacau, ambas as quais detestava cordialmente. Quanto mais a mãe pregava uma abstinência ultrapuritana, mais o pai se expandia numa relaxação ultrapagã, e pela altura em que a primeira chegara ao ponto de impor o vegetarianismo, o último chegara quase a defender o canibalismo. Gabriel, vendo-se cercado desde a infância por toda a espécie possível de revolta, tivera também de se revoltar, e seguira o único caminho livre: o do equilíbrio. Mas restava-lhe uma dose suficiente do sangue daqueles fanáticos para tornar o seu protesto em prol do senso comum demasiado feroz para ser sensato. O seu ódio à anarquia moderna fora também coroado por um acidente. Aconteceu que ia a passar na rua no momento em que se deu um atentado dinamitista. Por momentos ficara cego e surdo e, quando o fumo se dissipou, vira as janelas partidas e os rostos a sangrar.
Depois deste incidente continuou a sua vida do costume sossegado, cortês, bastante amável -, mas havia um sector do seu cérebro que não regulava bem. Não encarava os anarquistas como a maior parte de nós o fazemos, como um punhado de indivíduos mórbidos, que aliam a ignorância ao intelectualismo. Encarava-os como um perigo enorme e impiedoso, como uma invasão chinesa. Despejava continuamente nos jornais, e nos seus cestos dos papéis, uma série de contos, versos e artigos violentos precavendo os homens contra este novo dilúvio de negação barbárica. Não parecia, porém, que se aproximasse do inimigo, nem tão-pouco de um modo de vida. Quando passeava ao longo do cais do Tamisa, mordendo amargamente um charuto barato e meditando sobre o avanço da Anarquia, não havia anarquista de bomba na algibeira que fosse mais selvagem ou mais solitário do que ele. De fato, imaginava sempre o Governo só e desesperado, encurralado num beco sem saída. E era demasiado quixotesco para se importar com ele se assim não fosse.
Passeava um dia no cais, sob um pôr de Sol vermelho-escuro. O rio vermelho reflectia o céu vermelho, e ambos reflectiam a sua ira. Na realidade o céu estava tão escuro e a luz no rio relativamente tão brilhante, que a água quase parecia uma chama mais viva que o pôr de Sol que nela se espelhava. Parecia uma torrente de fogo serpenteando sob as vastas cavernas de um país subterrâneo. SYme, naquele tempo, andava mal vestido. Usava um chapéu alto fora de moda, andava embrulhado num sobretudo preto e roto, ainda mais fora de moda, e aquele vestuário dava-lhe um aspecto de cínico de romance de Dickens ou Bulwer Lytton. A barba e o cabelo amarelado também andavam mais hirsutos e despenteados do que quando, muito mais tarde e já aparados e penteados, apareceram nos jardins de Saffron Park. Pendia-lhe dos dentes cerrados um charuto negro, esguio e comprido, comprado no Soho por dois pence, e no conjunto passava por um espécime muito satisfatório dos anarquistas a quem votara guerra santa. Foi talvez por isso que um polícia se dirigiu a ele e lhe deu as boas-tardes. Syme, numa das suas crises de temor mórbido pela sorte da humanidade, pareceu picado pela simples solidez do automático guarda, um mero vulto azulado no crepúsculo.
— Com que então boa tarde? — disse rispidamente. Vocês seriam capazes de chamar boa-tarde ao fim do mundo. Olhe para aquele pôr de Sol vermelho de sangue e para o rio sangrento! Mesmo que se tratasse de fato de sangue humano, você continuaria na calma, à procura de um pobre inocente vagabundo a quem pudesse mandar circular. Vocês, os polícias, são cruéis para os pobres mas, se não fosse a vossa calma, talvez me sentisse capaz de até essa crueldade perdoar.
— Se somos calmos é porque temos a calma da resistência organizada.
— Eh? — proferiu Syme, boquiaberto.
— O soldado tem de ser calmo no mais aceso da batalha. A compostura do exército é a ira da nação.
— Valha-me Deus, as Board-Schools! Isto é que é a educação laica?
— Não — respondeu tristemente o polícia. — Nunca tive nenhuma dessas regalias, as Board-Schools ainda não existiam no meu tempo. Receio que a educação que recebi fosse muito grosseira e antiquada.
— Onde a recebeu?
— Oh, em Harrow. As simpatias de classe que, apesar de todas as suas falsidades, são, em tantos homens, dos sentimentos mais reais, manifestaram-se em Syme antes que ele as pudesse refrear.
— Mas, meu Deus, homem! Você nunca devia ser polícia.
o guarda suspirou e abanou a cabeça.
— Bem sei — disse solenemente –, bem sei que não sou digno.
— Mas por que se alistou na Polícia? — inquiriu Syme, com curiosidade malcriada.
— Pela mesma razão por que você a insultou. Descobri que no serviço havia um lugar especial para aqueles cujos receios pela humanidade se relacionavam mais com as aberrações do intelecto científico do que com as erupções, normais e desculpáveis, se bem que excessivas, da vontade humana. Espero que me faça compreender.
— Se pergunta se se exprime com clareza, suponho que assim é. Mas agora, se quer dizer que se faz compreender, isso nunca. Como explica que um homem como você esteja, de capacete azul na cabeça, a falar de filosofia junto às margens do Tamisa?
— É evidente que não viu falar nos mais recentes métodos do nosso sistema policial, e não me admiro, pois não os revelamos às classes educadas, pois nelas se encontram a maior parte dos nossos inimigos. Mas parece-me que você atravessa o estado de espírito apropriado. Creio que está quase a unir-se a nós.
— Unir-me a quem?
— Vou-lhe dizer — respondeu o polícia com lentidão. — A situação é a seguinte: à testa de uma das nossas repartições está um dos mais célebres detetives europeus, que é há muito da opinião que uma conspiração puramente intelectual brevemente ameaçará a própria existência da civilização. Está certo de que os mundos artísticos e científicos se uniram silenciosamente numa cruzada contra a família e contra o Estado. Em vista disto, formou um corpo especial de polícias, que são simultaneamente filósofos, e é seu dever observar o início desta conspiração, não só no sentido criminal, como também no controverso. Eu próprio sou democrático e concebo perfeitamente o que vale o homem vulgar em assuntos de valor ou virtude vulgares. Mas é óbvio que não seria conveniente empregar polícias vulgares numa investigação que é também uma caçada à heresia.
Nos olhos de Syme brilhava curiosidade simpatizante.
— Que fazem então?
— O trabalho do polícia filósofo e ao mesmo tempo mais audacioso e mais subtil que o do polícia vulgar. Este vai aos tascos prender ladrões, nós vamos aos chás de artistas descobrir pessimistas. O detetive vulgar descobre, por uma agenda ou por um diário, que se cometeu um crime. Nós, num livro de sonetos, descobrimos que se vai cometer um crime. Temos de descobrir a origem desses horríveis pensamentos que empurram os homens para o fanatismo e o crime intelectuais. Chegámos mesmo a tempo de evitar o atentado de Hardepool e isso deve-se exclusivamente ao fato de o nosso Mr. Wilks (um rapazinho muito esperto) ter compreendido perfeitamente um poema.
— Quer dizer que de fato há assim hoje tanta relação entre o crime e o intelecto?
— Você não é bastante democrático, mas tinha razão quando há pouco dizia que o nosso tratamento normal do criminoso pobre é um tanto brutal. Confesso-lhe que muitas vezes me aborreço com o meu ofício, quando vejo que ele é uma guerra perpétua ao ignorante e ao desesperado. Mas este nosso novo movimento é um caso muito diferente. Nós negamos a presunçosa concepção inglesa de que os criminosos perigosos são os sem educação. Lembramo-nos dos imperadores romanos, dos príncipes envenenadores da Renascença, e dizemos que o criminoso mais perigoso é o educado. Dizemos que, presentemente, o criminoso mais perigoso é o filósofo moderno, sem o mínimo respeito pela lei. Comparados com ele, os gatunos e os bígamos são indivíduos essencialmente morais, e eu estou de alma e coração com eles. Aceitam a ideia essencial acerca do homem, mas buscam-na erradamente. Os ladrões respeitam a propriedade, apenas desejam que ela se torne sua, a fim de a poderem respeitar melhor. Mas os filósofos detestam a propriedade na sua essência, querem destruir a própria ideia de possessão pessoal. Os bígamos respeitam o casamento, caso contrário não se sujeitariam à formalidade, altamente cerimoniosa e até ritual, da bigamia. Mas os filósofos desprezam o casamento por ser casamento. Os assassinos respeitam a vida humana, somente desejam atingir neles próprios uma maior plenitude dela pelo sacrifício do que lhes parece serem vidas inferiores. Mas os filósofos odeiam a vida em si, tanto a própria como a dos outros.
Syme bateu as mãos.
— Que verdade isso é! Sentia-o desde a minha adolescência, mas nunca fui capaz de o exprimir bem. O criminoso vulgar é um homem mau, mas ao menos é, se assim se pode dizer, um homem condicionalmente bom. Segundo ele, se um único e determinado obstáculo fosse removido, digamos um tio rico, estaria pronto a aceitar o mundo tal qual ele é e a louvar a Deus. É um reformador mas não um anarquista, quer limpar o edifício mas não destruí-lo. O filósofo maldoso não deseja alterar as Coisas, mas sim aniquilá-las. Em verdade, o mundo moderno conservou todas as partes do trabalho policial que são de fato opressivas e ignominiosas: a perseguição dos pobres, a espionagem dos infortunados, e abandonou a sua obra mais digna, o castigo de poderosos traidores contra o Estado e de poderosos heresiarcas contra a Igreja. Os modernos dizem que não devemos punir os heréticos. A minha única dúvida é se teremos o direito de punir mais alguém.
— Mas isto é absurdo! — gritou o polícia, apertando as mãos uma na outra, com uma excitação invulgar em pessoas do seu físico e uniforme. — Mas isto é intolerável! Não sei o que faz, mas está decerto desperdiçando a sua vida. Você deve ir, você vai alistar-se no nosso corpo especial contra a anarquia. Os exércitos desta estão nas nossas fronteiras, o seu golpe está pronto a ser vibrado. Um momento mais e pode perder a glória de trabalhar connosco, talvez a glória de morrer com os últimos heróis do mundo.
— É de fato uma oportunidade que se não deve perder concordou Syme –, mas eu ainda não percebi bem. Sei tão bem como qualquer outro que o mundo moderno está cheio de homenzinhos sem lei e de movimentozinhos loucos, mas, sendo todos bestiais, têm em geral o mérito de estar em desacordo uns com os outros. Em que se baseia para dizer que eles conduzem um exército ou preparam um golpe? O que é esta anarquia?
— Não a confunda com essas ocasionais erupções dinamitistas, vindas da Rússia e da Irlanda, que são na realidade erupções de homens oprimidos, se bem que enganados. Isto é um vasto movimento filosófico composto de dois anéis, um exterior, outro interior. Pode até chamar aos do anel exterior os laicos e aos do interior os sacerdotes. Eu prefiro dizer que o anel exterior é a secção inocente, e que o anel interior é a secção supremamente culpada. O anel exterior, a grande massa dos adeptos, é apenas de anarquistas, isto é, homens que crêem ter sido a felicidade humana destruída por regras e fórmulas. Crêem que todos os males que provêm dos crimes humanos resultam do sistema que lhes chamou crimes. Não acreditam que o crime criou o castigo, mas sim que o castigo criou o crime. Crêem que um homem pode seduzir sete mulheres e conservar-se tão inocente como as flores primaveris, que se um homem roubar uma carteira se sentirá naturalmente, refinadamente, bom. São estes que eu chamo a secção inocente.
— Oh! — exclamou Syme.
— Naturalmente, portanto, essa gente fala “dos bons tempos que hão-de vir”, do “paraíso futuro”, da “humanidade liberta das grilhetas do vício e da virtude”, e assim por diante. E também assim falam os homens do círculo interior, os sacerdotes sagrados. Também às massas que aplaudem eles falam da felicidade futura e do gênero humano por fim libertado. Mas nas suas bocas — e o polícia baixou a voz — estas frases felizes têm um significado medonho. Eles não têm ilusões, são demasiado intelectuais para pensar que neste mundo o homem se possa libertar completamente do pecado original e da luta pela vida. O que eles querem é a morte. Quando falam no gênero humano por fim livre, querem dizer com isso que a humanidade se suicidará. Quando falam em paraíso sem certo nem errado, querem dizer o túmulo. Têm apenas dois objectivos: primeiro, destruir a humanidade; depois, destruírem-se a si próprios. É por isso que lançam bombas em vez de disparar pistolas. A inocente arraia miúda fica desapontada porque a bomba não matou o rei, mas os grandes sacerdotes ficam contentes porque matou alguém.
— Como me posso alistar no vosso grupo? — perguntou Syme entusiasmado.
— Sei de certeza que neste momento há uma vaga, e tenho a honra de merecer uma certa confiança do chefe em que lhe falei. Você devia ir vêlo, ou antes, porque não devo dizer vê-lo, nunca ninguém o vê, devia falar-lhe.
— Pelo telefone? — perguntou Syme, interessado.
— Não, ele tem a mania de estar sempre num quarto escuro como breu. Diz que lhe torna as ideias mais luminosas. Venha daí. Syme, um tanto deslumbrado e muito excitado, deixou-se levar até uma porta lateral da comprida fila de edifícios de Scotland Yard. Antes que soubesse o que fazia já havia passado pelas mãos de quatro guardas intermediários e fora introduzido num quarto, cuja escuridão abrupta o alarmou tanto como um jacto de luz. Não era como a escuridão normal, na qual se podem distinguir vagamente as coisas, era como se tivesse cegado subitamente.
— Você é o novo recruta?– perguntou uma voz grossa. Por um instinto inexplicável, pois não se distinguia nada na escuridão, Syme compreendeu duas coisas: primeiro, que era a voz de um homem de grande estatura; segundo, que esse Homem estava de costas para ele.
— Você é o novo recruta? — repetiu o chefe invisível, que parecia estar já ao fato do que se passava. — Muito bem, está alistado. — Syme, completamente aturdido, lutou debilmente contra esta frase irrevogável:
— Não tenho experiência nenhuma — começou.
— Ninguém tem experiência da batalha de Armagedão — disse o outro.
— Mas, de fato, não sirvo.
— Tem boa vontade, e isso chega — opôs o desconhecido.
— Na verdade não sei de profissão na qual a boa vontade seja a prova final de admissão.
— Sei eu, a profissão de mártir. Estou a condená-lo à morte. Bom dia.
E foi assim que quando Gabriel Syme, de chapéu alto e sobretudo, ambos velhos e coçados, viu de novo a luz rubra da tarde, era já membro do Novo Corpo de detetives, destinado a frustrar a grande conspiração.
____
Trecho do “Capítulo IV” do livro O Homem que era Quinta-Feira, de G.K. Chesterton. Tradução de Domingos Arouca.