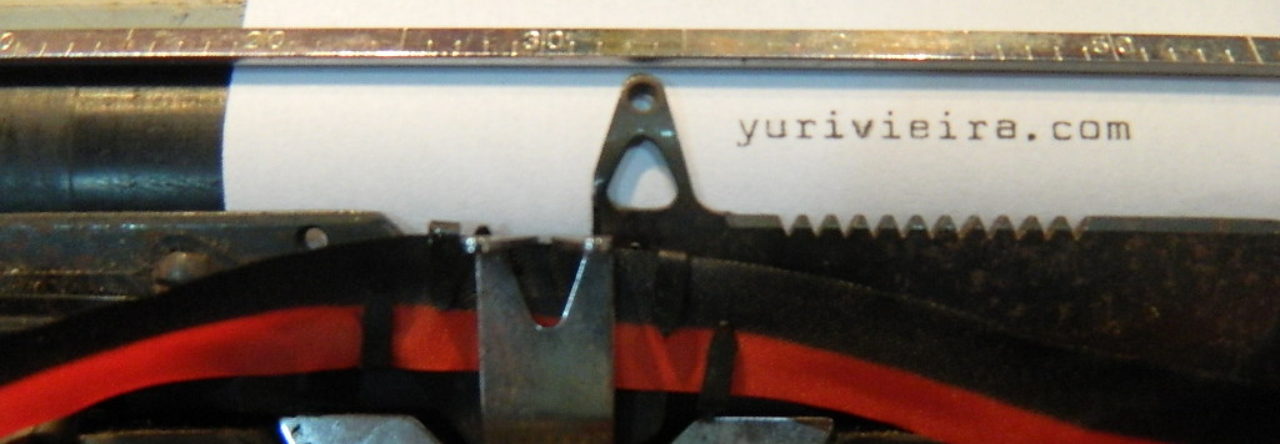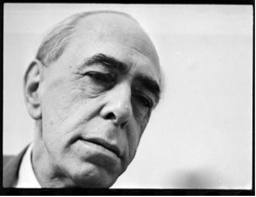(…) O “Diabo” da lâmina não evoca idéias que tenham relação com o drama cósmico da queda do “querubim protetor da montanha de Deus” nem do “Dragão antigo” que combate contra o arquiestratego Miguel e seu exército celeste. As idéias que o conjunto da lâmina e sua contextura evocam são, antes, as de escravidão, na qual se encontram as duas personalidades atadas ao pedestal de demônio monstruoso. A lâmina não sugere a metafísica do Mal, e sim a lição eminentemente prática, a saber, como pode ser que certos seres pervertam sua liberdade ao ponto de se tornarem escravos de um ser monstruoso, que os faz degenerar-se, tornando-os semelhantes a si mesmo.
O tema do décimo quinto arcano do Tarô é o da geração dos demônios e do poder que eles têm sobre seus geradores. É o Arcano da criação dos seres artificiais e da escravidão na qual o criador pode cair diante de sua criatura.
Para se compreender esse Arcano, é necessário, antes, considerar que o mundo do Mal é constituído não só dos seres das hierarquias celestes (com exceção dos Serafins) decaídas, mas também dos seres que, pela origem, não são hierárquicos, isto é, dos seres que, à semelhança dos bacilos, dos micróbios e dos vírus das doenças infecciosas, não devem sua origem, segundo os termos da filosofia escolástica, nem à Causa primeira, nem às causas segundas, mas às causas terceiras, as do arbítrio abusivo das criaturas autônomas. Há, pois, hierarquias “do lado esquerdo”, que estão e agem no quadro da Lei, executando funções de estrita justiça, na qualidade de acusadores, ou encarregadas de pôr o justo à prova, mas há, por outro lado, “micróbios do mal” ou seres criados artificialmente pela humanidade encarnada. Esses últimos são demônios cuja alma é paixão especial e cujo corpo é o conjunto das vibrações “eletromagnéticas” produzidas por essa paixão. Os demônios artificiais podem ser gerados por coletividades humanas como o foram muitos “deuses” monstruosos fenícios, mexicanos e até tibetanos de nossos dias. O Moloc cananeu, que exigia sacrifícios sangrentos de prisioneiros, mencionado muitas vezes na Bíblia, não é um ser hierárquico, do Bem ou do Mal, mas um egregório mau, isto é, um demônio criado artificial e coletivamente por comunidades humanas dominadas pelo arrepio do pavor. O mesmo vale para o Quatzacoatl do México.
Quanto ao Tibete, encontramos o fenômeno singular da prática — “quase científica” — da criação e destruição dos demônios. Parece que no Tibete o Arcano do qual nos ocupamos é conhecido e praticado como um dos métodos de treinamento oculto da vontade e da imaginação. Esse treinamento abrange três etapas: a criação das tulpas (criaturas mágicas) pela imaginação concentrada e dirigida, a sua evocação e a libertação de seu poder pelo ato de conhecimento, que as destrói, fazendo com que se tome consciência de que elas não são mais do que uma criação da imaginação e, portanto, uma ilusão. A finalidade desse treinamento é, pois, chegar à incredulidade a respeito dos demônios, depois de os ter criado pela força da imaginação e de ter enfrentado com intrepidez suas aparições terrificantes.
Eis o que diz sobre isso Alexandra David-Neel, que fala com conhecimento de causa:
“Interroguei vários lamas (a respeito da incredulidade). Às vezes, disse-me um deles — um gechê (filósofo) de Dirdi — constata-se essa incredulidade. Ela pode ser considerada como uma das metas visadas pelos mestres místicos, mas, se o discípulo a atinge antes do tempo útil, priva-se dos frutos da parte do treinamento destinada a torná-lo intrépido.
“Os mestres místicos, acrescentou ele, não aprovariam o noviço que professasse uma incredulidade simplista, porque ela é contrária à verdade.
“O discípulo deve compreender que deuses e demônios existem realmente só para aqueles que crêem na sua existência, e que podem fazer bem ou mal somente àqueles que lhes prestam culto ou que os temem. Muito raros, aliás, são aqueles que chegam à incredulidade durante a primeira parte de seu treinamento espiritual. A maior parte dos noviços vêem realmente aparições terrificantes…
“Tive ocasião de conversar com um eremita de Gã (Tibete oriental), chamado Kuchog Wantchén, sobre casos de morte súbita durante as evocações de espíritos malfazejos. Esse lama não parecia propriamente inclinado à superstição, e pensei que fosse aprovar-me quando eu lhe disse:
“‘Aqueles que morreram, morreram de medo. As suas visões eram objetivações de seus pensamentos. Quem não acredita nos demônios jamais será morto por eles.’
“Para grande espanto meu, o anacoreta replicou num tom singular: ‘Em sua opinião, é suficiente também não crer na existência dos tigres para se estar certo de não ser devorado por um deles, quando se passa ao seu alcance’. E continuou: ‘Realize-se ela consciente ou inconscientemente, a objetivação das formações mentais é processo muito misterioso. Em que vão dar essas criações? Não será possível que, como os filhos nascidos de nossa carne, esses filhos de nosso espírito escapem ao nosso controle e venham, com o tempo ou imediatamente, a viver uma vida própria? Não devemos considerar ainda que, se podemos gerá-los, outros também o podem, e que, se tais tulpas (criaturas mágicas) existem, será extraordinário que entremos em contato com elas, seja pela vontade de seus criadores, seja porque nossos pensamentos e nossos atos produzem as condições requeridas para que esses seres manifestem sua presença e sua atividade?… É necessário que saibamos defender-nos dos tigres dos quais somos pais e também daqueles que foram gerados por outros’.” (Mystiques et magiciens du Thibet, Librarie Plon, pp.130-132).
Esse é o pensamento dos mestres tibetanos da magia criadora de demônios. Eliphas Levi, mestre magista francês, tem opinião semelhante:
“A magia criadora do demônio, essa magia que ditou o Formulário de feitiçaria do papa Honório, o Enchiridion de Leão III, os exorcismos do Ritual, as sentenças dos inquisidores, os requisitórios de Laubardemont, os artigos dos Srs. Irmãos Veuillot, os livros dos Srs. de Faloux, de Montalembert, de Mirville, a magia dos feiticeiros e dos devotos que não o são, tudo isso é coisa verdadeiramente condenável em uns e infinitamente deplorável em outros. Foi principalmente para combater, revelando-as, essas tristes aberrações do espírito humano que publicamos esse livro. Possa ele servir ao sucesso dessa obra santa!” (Ritual, cap. XV).
“O próprio homem é o criador de seu céu e de seu inferno, e não existem demônios, mas nossas loucuras. Os espíritos que a verdade castiga são corrigidos pelo castigo e não pensam mais em perturbar o mundo.” (Dogma, cap. XXII).
Apoiado em sua experiência, Eliphas Levi não via nos demônios tais como os íncubos e os súcubos, nos mestres Léonards presidindo os sábados e nos demônios possessos senão criações da imaginação e da vontade humanas, que projetam, individual ou coletivamente, seu conteúdo na substância plástica da “luz astral”; assim os demônios da Europa foram gerados exatamente do mesmo modo que as “tulpas” tibetanas!
A arte e o método de “fazer ídolos”, proibidos pelo primeiro mandamento do Decálogo, são antigos e universais. Parece que em todos os tempos e em toda parte foram gerados demônios.
Eliphas Levi e os mestres tibetanos estão de acordo não só no que concerne à origem subjetiva e psicológica dos demônios, mas também quanto à sua existência objetiva. Gerados subjetivamente, eles se tornam forças independentes da subjetividade que os gerou. Em outros termos, eles são criações mágicas, porque a magia é a objetivação daquilo que se origina na subjetividade. Os demônios que não chegaram ao estádio de objetivação, isto é, da existência separada da vida psíquica de seu genitor, têm existência semi-autônoma, que a psicologia moderna chama “complexos” psicológicos, e que C. G. Jung considera como seres parasitas, que estão para o organismo psíquico como o câncer, por exemplo, está para o organismo físico. O “complexo” psicopatológico é, pois, um demônio em estado de gestação — não vindo de fora, mas gerado pelo próprio paciente —: ele ainda não nasceu, mas tem vida quase autônoma, alimentada pela vida psíquica de seu pai.
C. G. Jung diz a este respeito:
“(O complexo) parece ser processo autônomo que se impõe à consciência. É como se o complexo fosse um ser autônomo capaz de interferir nas intenções do ego. Com efeito, os complexos se comportam como pessoas secundárias ou parciais que têm vida mental própria.” (Psychology and Religion, três conferências na Universidade de Yale, EUA, 1950, pp.13 e 14).
“Um ser autônomo capaz de interferir nas intenções do ego” e “que tem vida mental própria” não é senão o que entendemos por “demônio”.
O “demônio-complexo”, é verdade, não age ainda fora da vida psíquica do indivíduo, não tendo o direito de cidadania na comunidade variegada e fantástica das “tulpas” ou demônios objetivos, que podem, às vezes — como nos casos de santo Antão, o Grande, e do santo cura d’Ars — afligir com golpes bem reais as vítimas de seus assaltos. O ruído desses assaltos, que todos ouvem, e as marcas roxas nos corpos das vítimas, que todos vêem, não se incluem mais na psicologia pura e simples, mas já são fato objetivo.
Como, então, são gerados os demônios?
Como toda geração, também a dos demônios é resultado do concurso dos princípios masculino e feminino, isto é, no caso da geração pela vida psíquica de um indivíduo, é o resultado do concurso da vontade e da imaginação. Um desejo perverso ou contrário à natureza seguido da imaginação correspondente constituem juntos o ato de geração de um demônio.
As duas personagens, uma, masculina, a outra, feminina, atadas ao pedestal da personagem central da lâmina do décimo quinto Arcano, o demônio, não são, pois, filhos ou criaturas da personagem central, como seríamos tentados a pensar, dada sua pequena estatura em relação à do demônio. Ao contrário, elas é que são os pais do demônio, mas se tornaram escravos de sua criatura. Eles representam a vontade perversa e a imaginação contrária à natureza, as quais deram origem ao demônio andrógino, isto é, a um ser dotado do desejo e da imaginação que dominam as forças que o geraram.
No caso da geração efetuada coletivamente, o demônio — que então se chama “egregório” — é produto da vontade e da imaginação coletivas. O nascimento de tal “egregório” moderno nos é conhecido:
“Um espectro ronda a Europa — o espectro do comunismo” — é a primeira frase do “Manifesto Comunista” de Karl Marx e Friedrich Engels, de 1848. “Todos os poderes da velha Europa, o Papa, e o Czar, Metternich e Guizot, os radicais franceses e os agentes da polícia alemã, se aliaram para uma santa caçada a esse espectro”, prossegue o “Manifesto”.
Entretanto — acrescentamos nós — o espectro crescia em estatura e poder, gerado pela vontade das massas, nascido do desespero da “revolução industrial” na Europa, alimentado pelo ressentimento acumulado nas massas durante gerações, munido de intelectualismo fictício, que é a dialética de Hegel tomada em sentido contrário; esse espectro crescia, continuando a rondar a Europa e, depois, outros continentes… Hoje um terço da humanidade tende a se inclinar diante desse deus e a obedecer a ele.
O que acabo de dizer sobre a geração do egregório moderno mais imponente está em perfeito acordo com o próprio ensinamento marxista. Porque, para o marxismo, não há Deus nem deuses; só há “demônios”, isto é, criaturas da vontade e da imaginação humanas. É a doutrina fundamental, chamada “superestrutura ideológica”. É o interesse econômico — isto é, a vontade — que cria — isto é, imagina — ideologias: religiosas, filosóficas, sociais e políticas. Para o marxismo, todas as religiões são, pois, “superestruturas”, isto é, formações produzidas pela vontade e pela imaginação humanas. O próprio marxismo-leninismo é superestrutura ideológica, produto da imaginação intelectual, baseado na vontade de ordenar ou de pôr em ordem as coisas sociais, políticas e culturais. Esse método de produção de superestruturas ideológicas sobre a base da vontade é precisamente o que entendemos por “geração coletiva de um demônio ou de um egregório”.
Ora, há o Verbo e há egregórios diante dos quais a humanidade se inclina: a revelação da verdade divina e a manifestação da vontade humana, o culto a Deus e o dos ídolos feitos pelo homem. Não é um diagnóstico e um prognóstico da história do gênero humano, se nos lembrarmos de que, enquanto Moisés recebia a revelação do Verbo no alto da montanha, embaixo o povo fez e adorou o Bezerro de ouro? O Verbo e os Ídolos, a verdade revelada e as “superestruturas ideológicas” da vontade humana agem simultaneamente na história do gênero humano. Houve um só século no qual os servos do Verbo não se tenham defrontado com os adoradores dos ídolos, dos egregórios?
A décima quinta lâmina do Tarô contém advertência importante para todos os que tomam a sério a magia: ela lhes ensina o arcano mágico da geração dos demônios e do poder que eles têm sobre aqueles que os geraram.
Nós, que tivemos a experiência de dois demônios gerados pela vontade coletiva, um por uma vontade coletiva movida pela ambição nacional e servindo-se de poderosas forças imaginativas, baseadas nos recursos biológicos, o demônio ou egregório nacional-socialista, e o outro demônio ou egregório do qual falamos acima, nós sabemos quão terrível é o poder que reside em nossa vontade e me nossa imaginação e quão grande é a responsabilidade que ela traz para aqueles que a desencadeiam no mundo! Quem semeia vento, colhe tempestade! E que tempestade!
Nós, do século XX, sabemos que as “grandes pestes” de nossos dias são os “egregórios” das “superestruturas ideológicas”, os quais custaram à humanidade mais vidas e mais sofrimentos do que as grandes epidemias da Idade Média.
Sabendo isso, não é tempo de dizermos a nós mesmos: Calemo-nos? Façamos calar-se nossa vontade e nossa imaginação arbitrárias e imponhamos-lhes a disciplina do silêncio. Não é esse um dos quatro mandamentos tradicionais do Hermetismo, a saber: ousar, querer, saber e calar-se? Calar-se é mais do que guardar segredo, mais mesmo do que não profanar as coisas sagradas, às quais é devido silêncio respeitoso. Calar-se é principalmente o grande mandamento mágico de não gerar demônios pela vontade e pela imaginação arbitrárias. O silêncio da vontade e da imaginação arbitrária é dever.
Contentemo-nos, pois, com o Trabalho, com as contribuições construtivas à tradição, seja ela espiritual, cristã, hermética ou científica. Aprofundemo-la, estudemo-la, pratiquemo-la, cultivemo-la, isto é, trabalhemos não para destruir, e sim para edificar. Coloquemo-nos entre os construtores da grande Catedral da Tradição espiritual da humanidade. Que as Sagradas Escrituras sejam santas para nós, que os sacramentos sejam sacramentos para nós, que a hierarquia da autoridade espiritual seja hierarquia da autoridade para nós e que a “filosofia perene” e a ciência verdadeiramente científica do passado e do presente encontrem em nós amigos e, sendo o caso, colaboradores respeitosos.
Eis o que comporta o mandamento de calar-se, de não gerar demônios.
É sempre o excesso devido à embriaguez da vontade e da imaginação que gera demônios.(…)