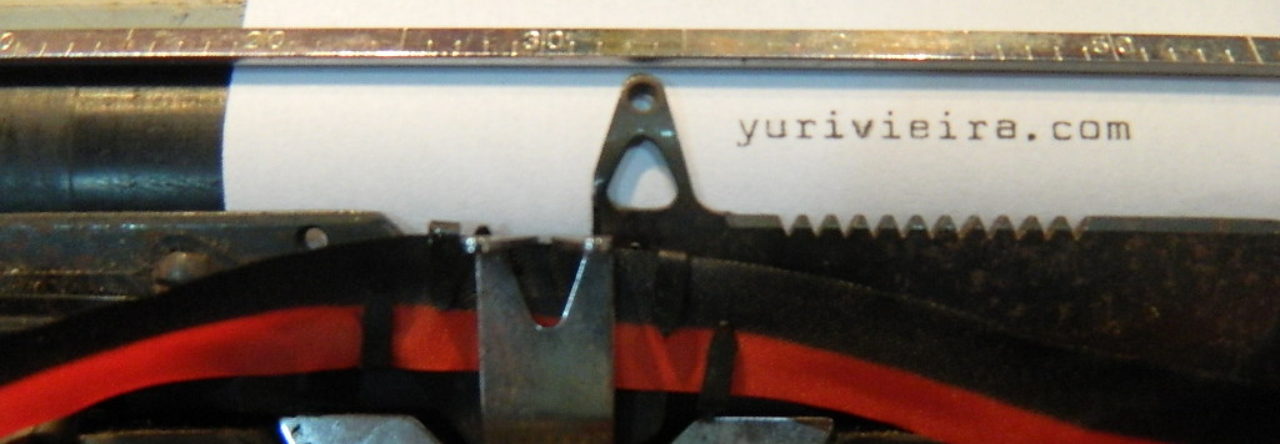Em Junho de 1999, quando eu já morava na Casa do Sol havia quase nove meses, a atriz e diretora Bete Coelho e a figurinista e cenógrafa Daniela Thomas foram visitar Hilda Hilst. Ambas participavam do projeto de adaptação para teatro do livro O Caderno Rosa de Lori Lamby, cuja protagonista seria vivida por Iara Jamra. A peça, à qual assisti semanas mais tarde no Teatro N.Ex.T, no centro de São Paulo, ficou excelente, unindo na proporção ideal o humor e o horror deste que é o primeiro volume da Trilogia Erótica hilstiana. O sucesso ulterior da montagem, contudo, não impediu Hilda de indagar pela milésima vez:
— Por que ninguém se interessa em montar minhas peças? Por que só querem adaptar meus livros?
— Ai, Hilda! — suspirava ao telefone o amigo Mora Fuentes. — Quando você disser isso às moças, porque eu sei que você vai dizer, sua teimosa, não faça a reclamona, né. Você não está contente com o interesse delas pela Lori Lamby?
— Claro que sim, Zé. Elas são ótimas. Mas não é isso…
— Hilda — eu então dizia — quando suas peças forem publicadas, os diretores vão começar a montá-las. Muita gente nem sabe que você também é dramaturga.
— Faz trinta anos que as escrevi! Trinta anos!! — repetia, arregalando os olhos.
E foi mais ou menos nesse clima que, num dia frio e ensolarado, recebemos as visitas. Em ocasiões assim, Hilda fazia questão da minha presença, entre outras coisas, para ser sua memória recente auxiliar.
— Yuri, quem é mesmo o autor dessa biografia do James Joyce que estou lendo?
— Richard Ellmann, Hilda.
— É verdade. Só me vinha à cabeça Richard Francis Burton. Mas é óbvio que se tratava de outro Richard.
Ela vivia citando autores e livros e, como eu vinha organizando sua biblioteca, cabia a mim correr atrás dos mesmos, pois ela sempre queria ler um trecho ou outro para seu interlocutor. Vale lembrar também que, como toda figura pública, Hilda Hilst se transformava nesses contatos com leitores e fãs. No dia a dia, eu até me esquecia de que ela estava prestes a completar setenta anos de idade: conversávamos como se ambos tivéssemos dezesseis. Claro, não foi assim desde nosso primeiro contato. Nossa amizade foi evoluindo. Mas essa diferença entre o antes e o depois saltava aos meus olhos quando, em minha presença, outras pessoas a encontravam pela primeira vez: de repente, minha “amiga adolescente que se interessava pelas mesmas coisas que eu”, e que só vestia a carapuça de mestra quando eu dizia uma grande besteira, se transformava em quem realmente era: um colosso literário. Ninguém que a tenha conhecido em sua casa jamais esquecerá de sua presença marcante, de sua sinceridade sem papas na língua e de sua modéstia aristocrática. Quando as visitas iam embora, ela me perguntava:
— Como me saí? — e então sorria. Tinha plena consciência do teatro do mundo e de seu papel nele.
Recebemos o anúncio da portaria do condomínio e nos preparamos para recepcionar Bete Coelho e Daniela Thomas. Hilda decidiu recebê-las à mesa de jantar, diante da lareira, já que o escritório estava inusualmente frio. Chico, o caseiro, abriu o portão e o carro veio estacionar diante do alpendre. Os cães, obviamente, fizeram o escarcéu de sempre, rodeando o carro e aguardando as visitantes com todos os volumes e tons de latido. Eram cerca de quinze cães.
— Olá, tudo bem? — eu disse, recebendo Daniela à porta e lhe estendendo a mão.
— Oi — respondeu, ligeiramente ansiosa, aceitando o cumprimento e me encarando por trás das grossas armações dos óculos. Uns dez cães a rodeavam, os pequenos latiam estridentemente.
— A Bete não vai entrar? — perguntei.
— Ela não quer sair do carro! Morre de medo de cachorros.
Ih, lascou-se!, pensei com meus botões. Hilda jamais sairia de casa para conversar com alguém pela janela de um automóvel. Ela simplesmente não confiava em quem não se dava com animais. Meu lado diplomático começou a se preocupar: e se isso fizesse Hilda não dar sua benção à peça? Não, ela não cancelaria sua autorização, mas aquela situação poderia azedar o trabalho de alguma forma. Talvez até aproveitasse o episódio como desculpa para não ir assistir à montagem. Embora estivesse mantendo um bom diálogo com Iara Jamra, por quem sentia grande simpatia, antipatizar com a diretora, por causa dos cães, não resultaria em nada de bom.
Entramos e Daniela cumprimentou Hilda com efusão. Após os salamaleques, indiquei a cadeira para que se sentasse.
— Cadê a Bete? — perguntou Hilda, que até então exalava pura simpatia. Pronto, pensei, vai começar.
— Ela não quer sair do carro — respondeu Daniela. — Está com medo dos cachorros. Não imaginava que se agitariam tanto.
O semblante de Hilda anuviou-se:
— Ué. Pensei que ela quisesse muito conversar comigo.
— E quer. Mas…
— Eles só ficam agitados no início, Daniela — atalhei. — Olha só como eles já se acalmaram. Bastou você se sentar.
— Eu vou lá falar com ela — respondeu, levantando-se e pressentindo nuvens de tempestade.
Daniela saiu e Hilda me encarou, uma expressão desgostosa nos lábios.
— Era só o que faltava — resmungou.
Infelizmente os cães acompanharam Daniela e retomaram a balbúrdia, o que, claro, só iria contradizer seus argumentos. Bete Coelho certamente não estaria disposta a ser um coelho numa caçada inglesa. Hilda, concentrada e já visivelmente irritada, fumava seu Chanceller. Aguardamos em silêncio. Ao cabo de dois ou três minutos, Daniela retornou: sozinha!
— Desculpa, Hilda — começou, embaraçada. — Não adianta. Ela está mesmo com medo.
Como Hilda nada respondesse, e pelo andar da carruagem talvez já não dissesse mais nada, decidi ir testar meus próprios argumentos.
— Eu falo com ela.
Fui até o carro e dei umas duas batidinhas no vidro. Bete Coelho abriu a janela. Os cabelos curtos e muito negros deixavam sua pele ainda mais pálida.
— Oi, Bete. Meu nome é Yuri. Sou secretário da Hilda.
— Oi, Yuri. Ela está muito chateada comigo?
— Um pouco. Mas você não precisa ficar com medo dos cachorros. Eles latem muito apenas quando vêem a pessoa pela primeira vez. Depois se acostumam e ficam quietos. Nunca morderam ninguém.
— Eu sei. Eu entendo que seja assim. Mas é involuntário! Juro! Estou em conflito aqui. Quero sair, mas não consigo.
Seu olhar comprovava sua angústia. Ela chegara à Casa do Sol e não veria Hilda Hilst? Como era possível?
— Olha — propus — você pode vir comigo. Vem segurando no meu braço. Você vai confirmar que cão que late não morde.
— Obrigada, Yuri — retrucou, desconsolada. — Mas não vai dar. É um problema que tenho. Estou até tratando essa fobia com meu psicanalista.
Nesse momento, trinta milhões de neurônios modificaram suas sinapses em meu cérebro e uma lâmpada, que só eu vi, acendeu sobre minha cabeça. Justamente naquele mês, eu e Hilda estávamos lendo e discutindo o livro “A Negação da Morte”, de Ernest Becker. Nele, através principalmente de Otto Rank e Kierkegaard, Becker busca provar que só há uma maneira de escapar à neurose causada pela verdade de que todos morreremos um dia: voltar à transferência original. Na psicanálise, grosso modo, transferência seria o processo pelo qual confiamos nossa segurança psíquica a algo que nos ultrapassa, que nos transcende, a algo que esteja fora e acima de nós mesmos. Quando o bebê está mamando, sua mãe é a fonte e a mantenedora de toda a sua saúde mental. Ele transfere suas necessidades mais profundas para ela. Ali, em seus braços, não há neurose, não há medo, não há ameaças de destruição. Conforme a criança vai crescendo e se tornando um adulto, sua transferência vai sendo dirigida para outras pessoas ou coisas: para o pai, para um namorado, para um trabalho, para uma crença, para uma ideologia e assim por diante. Quanto mais incerto, mortal ou volúvel for o alvo de sua transferência, mais neurótica se tornará a pessoa e, por isso, de mais mentiras existenciais necessitará para não mergulhar na loucura de se ver apenas como um animal que em breve irá morrer. E não há ninguém que viva sem estar preso a esse processo, por mais inconsciente que seja, por mais que seja oculto o alvo de sua transferência. Daí o estado de verdadeiro “escândalo”, no sentido bíblico, isto é, de abalo da fé, quando tal alvo se desfaz no ar ou cai em desgraça. Nada explica melhor um crime passional, quando o marido, traído pela esposa, mata-a e em seguida dá um tiro na cabeça. Nada explica melhor o suicídio de nazistas que, de repente, descobrem que o Führer está morto. Becker, portanto, desenvolve seu pensamento até nos mostrar que a única transferência perene, indestrutível e legítima é aquela que tem Deus por alvo. Seria essa a transferência original. Enfim, eu olhava para Bete Coelho e me vinham à cabeça todas essas coisas. Mas é claro que eu não iria lhe dizer: “Tenha fé em Deus, Bete, e nada vai lhe acontecer”. Não. Vestida com roupas escuras e pálida como uma freqüentadora do Hell’s Club, que eu também freqüentei — sempre curti música eletrônica —, essa não parecia de modo algum a abordagem correta. O fato é que eu também sabia que, numa psicanálise, a terapia torna-se muito mais efetiva quando, entre paciente e psicanalista, ocorre a transferência, quando o psicanalista se torna a salvaguarda do equilíbrio psíquico do paciente. Portanto, eu me inclinei em sua direção, sorri e lhe disse:
— Bete, tenho certeza de que, se você conseguisse enfrentar essa fobia agora e, apesar de todos esses cachorros, fosse até a sala conversar com a Hilda, seu psicanalista ficaria muito orgulhoso de você… — e, tendo dito isso, dei-lhe as costas e voltei à sala.
— Cadê ela, Yuri? — perguntou Hilda.
— Já está vindo.
— Sério?
— Sério.
E, de fato, em menos de dois minutos, Bete Coelho surgiu à porta por si só, os olhos vidrados, direcionados para frente, evitando olhar para baixo. Os cães, que haviam me acompanhado, cercaram-na latindo muitíssimo, mas ela, rígida, corajosa, permaneceu como uma estátua, os braços colados ao corpo. Com passos curtos e cuidadosos, mais parecia se deslocar sobre rodinhas do que caminhar. Dirigiu-se então até Hilda, que se levantou e a abraçou.
— É um prazer, Hilda. Me desculpa.
— Não entendi esse pânico todo — repreendeu-a Hilda, num tom bem humorado. — Você por acaso também tem medo de homem? Homem também tem pêlo. Sabia?
Todos riram dessa observação e Bete Coelho se sentou na cadeira que lhe indiquei. As conversas prosseguiram de forma amena e, graças à bravura da atriz-diretora, que confirmou Sócrates, segundo o qual corajoso não é quem não sente medo, mas, sim, quem o sente e o enfrenta, semanas mais tarde a própria Hilda foi assistir à montagem de O caderno Rosa de Lori Lamby. Porque, sinceramente, caso a autora tivesse antipatizado com Bete, teria sido muito difícil para Mora Fuentes arrastá-la da Casa do Sol até o teatro. (Ah, vale lembrar que, além de pêlos, alguns homens também têm boas idéias.)