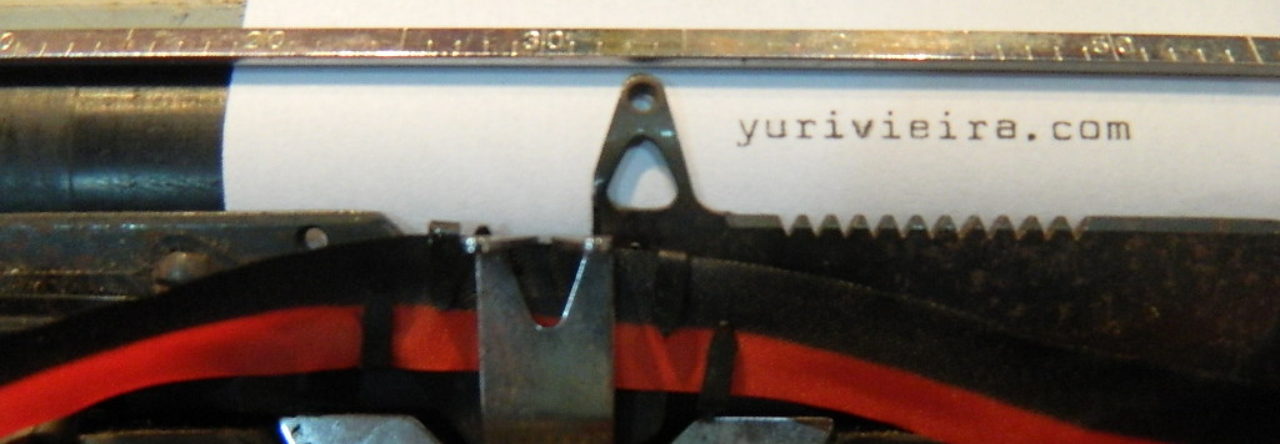Carl Sagan e Ann Druyan
Aos dezesseis anos de idade, li maravilhado o livro “Cosmos”, do astrofísico Carl Sagan. Apesar de realmente ter assimilado todas aquelas informações científicas — eu era um nerd que tirava dez sobre dez nas provas de física — um dos trechos que mais me impressionaram, e de que jamais me esqueci, foi a dedicatória à sua esposa: “Para Ann Druyan — Diante da vastidão do espaço e da imensidade do tempo, é uma alegria compartilhar um planeta e uma época com Annie”. Um cientista romântico!, pensei então. Quantas vezes ouvimos no colégio que um cientista também pode ser um romântico? E quantos cientistas usam e abusam de epígrafes retiradas de livros sagrados ou de relatos mitológicos? Carl Sagan, com seu tom agnóstico e sentimental, conquistou minha simpatia e minha admiração naquela época. E também me lembro de que, enquanto lia seu livro, imaginava a voz de seu dublador brasileiro da série Cosmos a falar em minha cabeça. E essa imagem, de amar uma determinada mulher em meio ao sem-fim de mulheres possíveis, colou-se na minha imaginação: seria realmente possível? Como o tempo e o espaço condicionariam um tal amor?
Dez ou doze anos mais tarde, vencido pela insistência de alguns amigos, li “Paulo e Estevão”, uma biografia romanceada de São Paulo cujo verdadeiro autor não me interessa: Chico Xavier? Seu mentor Emmanuel? E daí? O livro é excelente e, centrado na trama e nos personagens, não se perde em doutrinação ou apologia espíritas. A despeito de possíveis incongruências históricas, trata-se duma obra literária honesta, ponto. Ninguém seria capaz de desmerecer as tragédias e dramas históricos de Shakespeare por conta de seus remendos. A falta de dados e a necessária consistência estética assim o exigem! Ninguém, em sã consciência, tampouco acusaria Shakespeare de apologia ao espiritismo por conta do fantasma do pai de Hamlet. Enfim, a que pese a moral e os costumes judáicos, a maneira como o romance de Chico Xavier justifica a postura pessoal de Paulo diante da castidade, defendida por ele em suas epístolas, é artisticamente verossímil. Saulo (Paulo) teria ficado noivo de Abigail, irmã de Jesiel — mais tarde batizado por São Pedro como Estevão —, sem conhecer essa ligação familiar. A própria Abigail só teria reconhecido o irmão, supostamente prisioneiro das galés no Mediterrâneo, no rosto do grande inimigo de seu noivo caçador de cristãos no dia da execução de Estevão. Quando Saulo se dá conta de que havia condenado à morte o irmão da mulher amada, o mesmo homem que a ela o futuro apóstolo jurara resgatar nos confins do mundo, cai numa tremenda crise. Incapaz de encarar a noiva, afasta-se. Nesse ínterim, ela adoece e morre. Quando Saulo decide que ainda a quer, é tarde demais, o tempo o venceu. Ele, que já odiava os cristãos por serem uma ameaça ao judaísmo, passa a odiá-los como aqueles que também arruinaram sua vida pessoal. O resto é história.
Nas epístolas — perdão, não sou desses que memorizam capítulos e versículos —, Paulo discorre sobre a castidade como sendo análoga à espera tranqüilamente suportada pelo noivo e pelo viúvo. Ambos se guardam enquanto o tempo os afasta do anelado reencontro. Já o hermetista cristão Valentin Tomberg ressalta que a castidade não é uma fuga ao sexo ou ao matrimônio: é, sim, vencer em seu próprio interior a “pulsão de caça ao outro” e, por isso, mesmo uma pessoa casada e sexualmente ativa deve ser casta. A castidade é, pois, paciência, aceitação e amor. A castidade é inimiga da pressa e não deve se deixar enganar pelo tempo.
O dado mais interessante da vida no espaço-tempo é que, conforme essa vida transcorre, o tempo se contrai. Na infância, o tempo tem a dimensão da eternidade, amplo como o mundo. Mesmo um homem de 90 anos de idade confirmará que seus doze primeiros anos correspondem, no fundo, à metade da sua vida. Para uma criança, a espera de um mês é uma longa espera. E tal impressão não se desvanece de uma hora para outra. Aqueles primeiros anos de eternidade relativa permanecem na mente de todo adulto. Uma paixonite infantil pode condicionar, em geral de modo inconsciente, centenas de paixões da maturidade: uma mulher com o mesmo olhar daquela coleguinha de escola, o mesmo sorriso, os mesmos lábios fartos constantemente entreabertos… Enfim, conforme os anos passam, contraem-se, e um ano torna-se uma medida diferente para quem tem quarenta anos de idade e para quem tem vinte. Se uma pessoa de quarenta anos permanece cinco anos sem falar com alguém, é como se tivessem conversado ontem. Para alguém de vinte e poucos anos, ficar sem contato com alguém por cinco anos é como ter permanecido distante por uma eternidade, afinal, cinco anos correspondem a 25% do seu tempo de vida. (E, por isso, homens maduros, se vocês prometerem a uma moça que irão lhe telefonar, telefonem em até duas semanas e não depois de seis meses!)
O tempo, portanto, pode ser um vilão para pessoas apressadas que, apesar da grande diferença de idade, apaixonam-se uma pela outra. Outro dia, meu pai me mostrou no YouTube uma música que, enterrada no subsolo da minha mente, causou-me comoção: “Non ho l’età”, interpretada por Gigliola Cinquetti. A melodia me trouxe aquela dura nostalgia da infância. Foi como me ver novamente aos pés da minha mãe enquanto ela ouvia ao rádio e trabalhava ou na cozinha ou em seus quadros. Mas da letra da música, em italiano, eu não sabia absolutamente nada, não fazia idéia… E essa letra me trouxe outra dura nostalgia, outra mais recente, mais vívida. E o choque entre ambas as nostalgias me abalou a alma, como se eu tivesse finalmente desvendado um vaticínio que me chegara cedo demais, já que, em criança, eu não possuía ferramentas para penetrar sua criptografia. E isso, claro, também me lembra outro caso da Hilda Hilst.
Quando Hilda tinha 69 anos de idade, recebeu a notícia — ao menos me lembro do ocorrido desta maneira — da morte da mulher de um antigo namorado, Paes Barreto, o mesmo homem que inspirou seus poemas do livro “Trovas de muito amor para um amado senhor” (1960). Quando se conheceram nos anos 1950, Paes Barreto era cerca de vinte anos mais velho e já era casado. Ainda assim, eles se apaixonaram e viajaram juntos. Hilda me disse que Paes Barreto pretendia separar-se da esposa para se casar com ela, mas Hilda, apesar de tentada, pois realmente o amava, não queria o carma de ser a destruidora de uma família — e então o rejeitou, afinal, ainda havia todo o tempo do mundo. Ela me confessou que se arrependeu diversas vezes dessa decisão ao longo da vida, pois, além de Paes Barreto, nenhum outro homem a tratou com tanto respeito, carinho e paixão, nenhum outro homem a compreendeu tão bem. Rindo, ela me dizia que a esposa de Paes Barreto, nos anos seguintes, já ciente daquele caso findado, sempre rasgava os jornais quando saía alguma notícia sobre Hilda e seus livros. Ao menos era o que lhe segredavam amigas comuns. E, na ocasião daquele falecimento, ciente de que já não havia um casamento a atrapalhar, Hilda me pediu para encontrar o telefone de Paes Barreto, com quem já não conversava havia mais de vinte anos. Descobri o número e, sabendo que Hilda não se incomodava nem um pouco em dividir sua intimidade comigo, permaneci no escritório enquanto conversavam. Na verdade, eu fiz a ligação e o avisei: “Senhor Paes Barreto? Um telefonema da parte de Hilda Hilst” e passei o aparelho para a poeta.
— Barreto? É Hilda! (Pausa.) Sim, meu querido, eu sei, eu sinto muito. (Pausa.) É verdade, me desculpa. (Pausa.) Eu também tenho muitas, muitas saudades… Não chora.
Nesse momento, Hilda começou a chorar compulsivamente, causando-me grande constrangimento. Não queria incomodá-los, senti que era um momento muito importante, íntimo, e me levantei, dirigindo-me à porta do escritório, de onde ainda a ouvi dizer:
— Eu também, Barreto, eu também. Eu te amo muito, meu querido!
Paes Barreto, salvo engano, faleceu dois anos depois. Não chegaram a se reencontrar. Não na Terra, pois Hilda faleceu seis anos depois. Neste mundo, o tempo se contrai e, se para a jovem Hilda aquele homem mais velho era muito mais velho, agora estavam ambos igualados pela morte. Nem todo mundo tem a sorte que Carl Sagan teve de — além de encontrar numa mesma pessoa um grande amor e uma alma afim — compartilhar com ela uma época e um planeta como um casal.

Marina Di Vicenzi, Hilda Hilst e Paes Barreto, 1959.
UM POEMA DE HILDA HILST PARA SEU AMADO SENHOR:
Dizeis que tenho vaidades.
E que no vosso entender
Mulheres de pouca idade
Que não se queiram perder
É preciso que não tenham
Tantas e tais veleidades.
Senhor, se a mim me acrescento
Flores e renda, cetins,
Se solto o cabelo ao vento
É bem por vós, não por mim.
Tenho dois olhos contentes
E a boca fresca e rosada.
E a vaidade só consente
Vaidades, se desejada.
E além de vós
Não desejo nada.
____