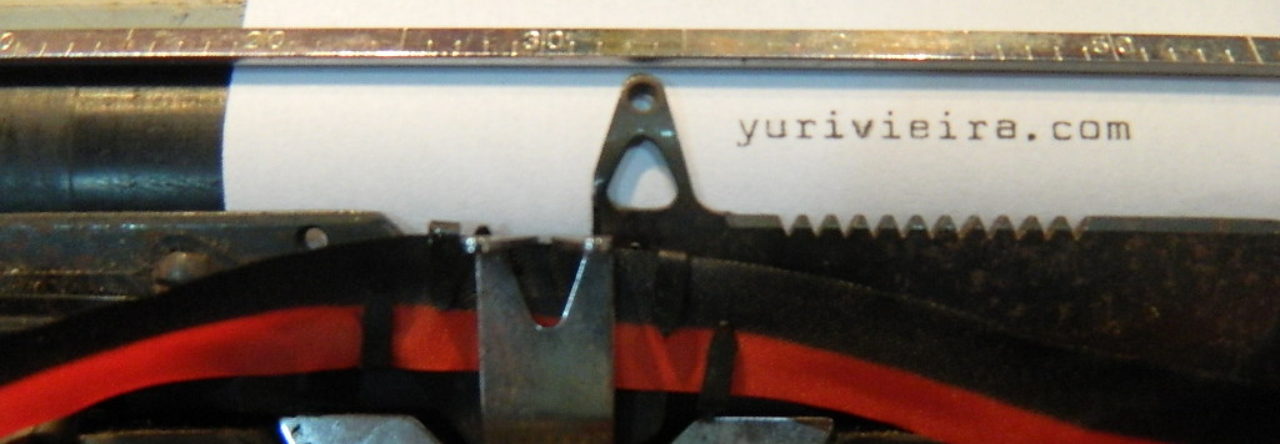Entre os nossos companheiros de viagem havia um, cuja vida estava cheia das mais interessantes aventuras amorosas. Chamava-se Manoel…, o apellido de familia não nos interessa. O joven official de marinha, moço de bella apparencia e excellente coração, apaixonara-se por uma Eva Smith muito conhecida nos cafés-concertos de Nova-Orleans. Até aqui nada mais natural. Ella vira-o uma vez diante de um bock, seus olhos se encontraram, e, desde logo, Manoel ficou sendo a menina dos olhos de Eva. Amaram-se por muitos dias, gosaram todas as delicias imaginaveis, elle prohibiu-a de andar nos cafés, ella prohibiu-o de olhar para outras raparigas, e assim corresponderam-se de commum accordo, sem que nunca houvesse entre elles a menor desavença.
―Leva-me para o Brazil, Manoel… (ella só o tratava por Manoel).
―Sim, filha, depois havemos de ver isso…
―I love you very much…
―Oh! yess… I think so…
Viviam felizes como um casal de noivos, longe da cidade, n’um quarto d’hotel, onde havia do melhor vinho e da melhor sôpa.
Um bello dia:
Elle―Olha, sabes? O Barroso suspende ferro amanhã.?.
Ella (surprehendida)―What do you say?!
Elle (trincando um rabanete)―É o que estou lhe dizendo. Amanhã, por estas horas, o Manoel vai sulcando o golfo do Mexico.
Ella (cruzando o talher)―Impossivel! Por que já não me disseste?
―Para te poupar o desgosto…
―Oh! não, meu querido Manoel, é historia, tu não vás amanhã…
―Assim é preciso. São cousas da vida…
―Não, não, meu amor (my love) tu não vás, porque eu não quero, do contrario faço escandalo, estás ouvindo?
E, ao dizer estas palavras, a pobre Eva deixou cahir uma lagrima…
Silencio. Manoel continuou a jantar sem interrupção, muito calmo, com uma fleugma verdadeiramente britannica. Eva, coitada, abriu a soluçar baixinho, fungando a mais não poder, sem se aperceber de que estava fazendo de um guardanapo um lenço.
Ultimo acto, e aqui é que está o aproposito.
Scenario: O Mississipe pardo e murmurejante sob a luz moribunda do crepusculo.
O Almirante Barroso, immovel sobre o rio, com a sua mastreação muito alta, fuméga. Ouve-se barulho de cabrestante e de amarras cahindo no convéz. Tremúla a bandeira brazileira na carangueija da mezena… Ultimos preparos.
No cáes agita-se uma multidão compacta.
De repente surge á tona d’agua o cepo da ancora enlameada, pingando um lodo cinzento, e o navio começa a andar vagarosamente.
A guarnição sóbe ás vergas, alastrando-se de um bordo e d’outro, e acena para terra ao som de―vivas!
Agitam-se lenços na praia, correspondendo ás saudações de bordo. Um fremito percorre os que estão no cruzador…
É o momento decisivo.
Um grande rebocador, The Warriaro, vistoso e arquejante, acompanha as manobras do Barroso, á distancia de uma amarra, solitario e sombrio, envolto n’uma nuvem de fumaça, e em cuja tolda assoma a figura desgrenhada de uma mulher.
O cruzador segue á vante, magestoso e lento, descrevendo uma bella curva no espelho da agua, e torna a passar defronte da cidade, apressando a marcha.
As religiosas das Ursulinas lá cima, nas janellinhas do convento, acenam tambem com os seus lenços brancos.
E, no silencio da tarde que a nevoa melancolisa, repercutem estas palavras tocadas de saudade:
―Good bye!
―Good bye! repete a mesma voz avelludada como um carinho…
Olhámos uns para os outros commovidos.
Quem seria que se lembrara de levar tão perto sua despedida aos brazileiros?
A voz era de mulher, não restava duvida…
Com effeito, reconhecemos na figura desgrenhada que viamos a bordo do rebocador Eva Smith, a amante de Manoel…, a apaixonada rapariga muito conhecida nos cafés cantantes de Nova-Orleans, cujo enthusiasmo pelo nosso companheiro tinha chegado a seu auge.
E quando o Barroso desappareceu na primeira curva do rio, ainda ouviamos, tomados de uma tristeza infinita, a mesma voz cheia de desespero, agora abafada pela distancia, soluçada e plangente:
―Good bye, Manoel! Good bye!…
E dizer que a Dama das Camelias é uma excepção na vida sentimental das filhas de Eva!…
O nosso Armando, que aliás nunca pretendeu regenerar ninguem, deixou se cahir n’uma saudade profunda, n’um longo adormecimento d’alma, de que só accordou no alto mar, quando já não se avistava um ponto siquer da costa americana.
[…]
No fim de oito dias o Barroso deixava de uma vez o paiz dos yankees, fazendo-se de vela para os Açores.
Já agora não nos doía muito a saudade desse bello e prodigioso paiz. O regresso á patria, depois de uma ausencia de quasi um anno, enchia-nos o coração de alegria.
Não fôra a perda de um companheiro em Nova-Orleans e voltariamos todos, sem faltar ninguem, sadios e fortes, cheios de impressões novas e cheios de esperança.
Voltavamos, sim, mas tinhamos deixado atraz, em terra extrangeira, n’um cemiterio de Nova-Orleans, um dos nossos camaradas.
Traziamos uma convicção, e é que nenhum povo sabe comprehender tão bem o problema da vida humana como os americanos dos Estados-Unidos. A idéa da morte não os preoccupa: um yankee triste é cousa rara e toma proporções de phenomeno.
Elles, os americanos, são geralmente alegres, bem dispostos, amigos do trabalho, compenetrados de seus deveres, e, acima de tudo, amam a sua patria mais do que qualquer outro povo.
A patria e a familia são os seus principaes objectivos. Menos egoistas que os inglezes, energicos e resolutos, sobra-lhes tempo e dinheiro para se divertirem.
Esse povo verdadeiramente democratico não pede licções a paiz nenhum: engrandeceu a custa de seus proprios esforços e dia a dia prospéra, assombrando o mundo com as suas emprezas colossaes.
Si a Allemanha representa no seculo XIX a patria das sciencias moraes, aos Estados-Unidos compete o primeiro logar na ordem dos paizes que tem concorrido grandemente para o aperfeiçoamento e bem estar humanos.
Emquanto as nações da Europa degladiam-se n’uma lucta continua, perdendo na guerra o que difficilmente accumularam em poucos annos de paz, a grande nação americana deixa-se estar quieta e desarmada, sem exercito e sem marinha, confiada no seu proprio valor, no patriotismo de seus filhos, certa de que, n’um dado momento, cada cidadão, cada americano saberá cumprir com heroismo o seu dever e honrar as suas tradições de povo independente e forte.
Go ahead! never mind; help yourself!―eis a maxima de todo yankee. Elles não a esquecem nunca e marcham desassombradamente na vida, como quem tem absoluta confiança no proprio valor.
ceará―1890.