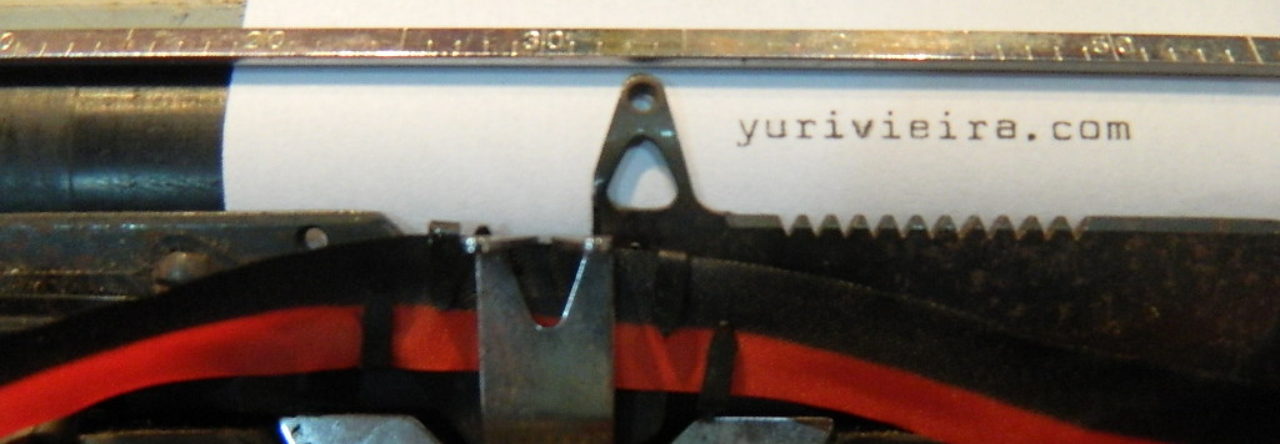Comentei no grupo do Garganta de Fogo (WhatsApp) que eu havia chorado recentemente ao rever tanto Rocky quanto Rocky II — e eles pensaram que eu estivesse brincando! “Choro assistindo a Masterchef”, respondeu um dos meus amigos. Bom, o fato é que eu estava falando MUUUITO sério. Eu havia assistido a ambos os filmes apenas na infância e, para mim, não passavam de duas historietas similares — e das mais simplórias e apelativas — sobre um boxeador que se supera e vence, em ambas, o mesmo brutamontes sem coração. Ou seja, fazia décadas que não via esses filmes e minha lembrança deles, no fundo, estava totalmente contaminada pelas besteiras modernetes e pós-modernetes que assimilamos da mídia e desses professores alienados da vida real e dos valores simples e eternos do povo. Mas Stallone não está isolado da realidade: ele vai diretamente à raiz dos valores tradicionais e, com seu Forrest Gump boxeador, mostra que um paspalho honesto e sincero entende mais do sentido da vida que um bando de intelectuais universitários. E não apenas isso: ele também sabe o que uma mulher significa para um homem e o que um homem significa para uma mulher. As pitadas de melodrama atiradas aqui e ali, ao longo de ambos os filmes, são inteiramente justificadas e, por isso, perdoadas: elas têm um sentido maior, justo e verdadeiro. O cinema brasileiro sairia do buraco se possuísse Stallones roteiristas. A partir de agora sou fã incondicional do Garanhão Italiano. E de Sylvester Stallone, esse gênio pop. Depois desses filmes ele pôde, pode e poderá realizar qualquer besteira cinematográfica, pois ambos o redimirão eternamente. Hilda Hilst tinha razão: se o cinema não emociona, não tem razão de ser. Obrigado pelas lágrimas, Sylvester Stallone.
Tag: Cinema Page 1 of 9

Uma das melhores cenas do filme Elvis & Nixon — que retrata esse curioso encontro entre o “rei do rock” e o então presidente republicano — é aquela em que Presley, ao ser indagado por um agente secreto se está “portando armas ilegais”, responde de pronto que não, não está. Seguindo o protocolo — afinal, estão nos corredores da Casa Branca — o agente o submete a uma revista com detetor de metais, o qual logo emite zumbidos suspeitos. O sujeito então lhe pede para abrir o blazer, Elvis o obedece e vemos que carrega, sob o braço, num coldre branco, uma reluzente pistola dourada.
— Por que negou que estava portando uma arma? — torna o agente, com ar carrancudo.
— Não neguei — responde Elvis. — Você perguntou se eu estava portando alguma arma ‘ilegal’, e minhas armas são legalizadas. Nós — e ele também se referia a seus dois acompanhantes — temos autorização para portá-las.
O agente, pois, lhes pede para deixarem as armas sobre uma mesa. Elvis não apenas retira o coldre branco mas também, alçando a parte de trás do blazer, saca outra pistola das traseiras da cintura, arma que portava à socapa feito um gângster de filme policial. Seus dois acompanhantes também sacam suas próprias pistolas e as colocam sobre a mesa. Os olhares dos assessores do presidente Nixon e dos agentes secretos são impagáveis: um roqueiro pretendia entrar armado até os dentes no Salão Oval!
Em seguida, o agente quer saber que objeto é aquele que Elvis pretende entregar a Nixon.
— É apenas uma lembrancinha — diz, sacudindo uma caixa embalada em papel de presente.
Claro que o agente não se satisfaz e insiste que é sua obrigação averiguar o conteúdo daquele pacote. Resignado, Elvis lhe entrega a caixa, que é rapidamente aberta pelo agente: trata-se de uma caixa de madeira, com tampo de vidro, contendo uma bela pistola comemorativa da Segunda Guerra Mundial e dez balas de prata. O agente o encara como se estivesse observando um extraterrestre: “Esse cara é doido?”, deve ter pensado.
— Desculpe, mas eu mesmo entregarei seu presente ao presidente — diz o agente, categórico.
Elvis dá de ombros e, para alívio do assessor que o acompanha, finalmente se dirige para o Salão Oval. Antes de lá chegar, porém, o assessor lhe pede desculpas pela maçante eficiência do agente secreto que, obviamente, está apenas cumprindo seu dever.
— Não tão eficiente — retruca Elvis, levantando a barra da calça e mostrando um pequeno revólver escondido no cano da bota.
E o assessor, constrangido, não alertou ninguém, permitindo que Elvis se encontrasse com Nixon portando uma arma… sim, uma arma legalizada.
No mais, apesar de gostar do trabalho do Michael Shannon, não o achei uma boa escolha para interpretar o “rei do rock”: Elvis tinha um vozeirão, falava para fora, e Shannon parece o menino daquela piada, aquele que “foi lá fora chamar o pai para dentro”: quase não o ouvimos. (Sem falar que Elvis era um sujeito bonito e Shannon parece um vampiro anêmico.) Já Kevin Spacey, como sempre, faz um ótimo trabalho como Nixon. Não faço a menor idéia se os diálogos entre os dois foi reproduzido com fidelidade, mas o tom geral, da parte de Elvis, é: a juventude está perdida, os Estados Unidos se encaminham para um colapso moral e social e, claro, os Beatles têm culpa no cartório. Como resultado da visita, Elvis também é nomeado agente da narcóticos e, assim habilitado, pretendia infiltrar-se entre outros roqueiros para prender os drogados e comunistas. (Segundo um comentarista no YouTube, na verdade ele pretendia era apreender todas as drogas para usá-las ele mesmo. Sacanagem, claro.)

Quando estive em Parauapebas, no Pará, a convite do festival de cinema CurtaCarajás — no qual, além de jurado, ministrei uma oficina de roteiro e direção de curtas-metragens — nós, membros do juri, fomos convidados pelos organizadores e pela Vale para conhecer a gigantesca Mina de Ferro do Carajás. Fomos de caminhonete e, conforme subíamos a serra, uma intensa neblina ia nos engolindo — era espantoso sentir, em contraste com o famigerado calor da cidade, aquela brusca queda de temperatura. (A sensação, na verdade, era a mesma de quando viajei de Tena a Baños, no Equador, isto é, da selva amazônica à cordilheira dos Andes.) Num enclave da Serra, há toda uma cidade, muito bem administrada e conservada, na qual residem apenas os funcionários da empresa: sim, uma vila privada dotada de tudo o que uma população necessita, incluindo cinemas. Mas o que realmente me marcou, claro, foi o passeio que demos dentro da Mina: parecia que estávamos em Marte ou noutro cenário qualquer de filme de ficção científica. E os caminhões! Os caminhões que ali trabalham são a razão do vídeo abaixo: pareciam monstros, com pneus de mais de três metros de diâmetro.

Lembro que o motorista da caminhonete, bastante concentrado enquanto dirigia em meio ao nevoeiro, nos disse que o maior perigo ali seria cruzar a frente de um desses caminhões: se nos colocássemos a uma distância de menos de cinco ou seis metros, o motorista do monstro — o “monstrorista” — simplesmente não conseguiria nos ver, pois estaríamos num ponto cego e, em conseqüência, acabaria nos “empanquecando”. Conforme andávamos, ouvíamos os ruídos e rugidos dos monstros e, vez ou outra, quando acontecia de a neblina descansar, distinguíamos os vultos das enormes escavadeiras, que eram ainda maiores e mais dinossáuricas do que os caminhões. E as crateras abertas por todas as partes, com as escarpas a nos ameaçar em meio às rampas, os tremores do chão sempre que algum caminhão se aproximava — máquina absurda discernível apenas como fantasma — tudo isso me lembrava as cenas finais do filme The Mist (O Nevoeiro), lançado dois anos antes.
Enfim, veja a primeira metade do vídeo abaixo e sinta-se na Serra do Carajás durante um denso nevoeiro.

Durante os debates do Encontro de Escritores organizado pelo Olavo de Carvalho nos EUA, mencionei o romance Pastoral Americana, escrito por Philip Roth. Falávamos, se não me falha a memória, sobre como certos acontecimentos na vida social, política e cultural estão prefigurados na literatura. E então comentei sobre como, a meu ver, teria sido a vida de Dilma Rousseff caso ela tivesse nascido nos EUA: basta acompanhar a vida da personagem Merry no referido romance. Para quem estiver sem tempo — a tradução brasileira tem 478 páginas — sugiro o filme Pastoral Americana, de 2016, disponível na Netflix, cuja trama é bastante fiel à do livro. (Claro, o cinema, contrastado à literatura, dificilmente atinge a mesma profundidade de expressão, mas, para quem quiser ter um lampejo sobre o que eu quis dizer, já é um bom começo.)
O romance, obviamente, não retrata apenas um modelo americano da nossa ex-presidente: mostra principalmente a transformação “antes da Federal / depois da Federal”, por assim dizer, de boa parte dos jovens do Ocidente e seu corolário, isto é, a situação na qual terminam seus pais, uma situação muito mais grave do que um mero “choro de chuveiro”.
No Brasil as pessoas babam na gravata há tanto tempo que Merry chegou a ser eleita… presidentA.
Este é o Rei da Lua, mas poderia ser Kant ou Descartes.
Monólogo de Alex Jones (InfoWars) no filme Waking Life (2001), de Richard Linklater. (Embora pareça uma animação, o filme é, na verdade, o resultado de uma “rotoscopia digital” a partir de imagens captadas por câmeras digitais de atores e personalidades reais.)
Em entrevista a Danilo Gentili, Josias Teófilo afirmou que é provavelmente o único cineasta brasileiro a se colocar à direita do espectro político. Saiba que isto não é exato: podemos não ser muitos, mas existimos, e quase todos fomos silenciados de uma maneira ou de outra ao longo dos últimos anos.
Quando lancei o curta-metragem ESPELHO em 2007 (disponível no YouTube), só consegui emplacá-lo em um único festival fora do circuito goianiense: o CINEME-SE, de Santos-SP. (Em Goiânia, ganhamos o prêmio de Melhor Direção no FESTCINE.) Após inscrevê-lo em três festivais mineiros — Ouro Preto, Belo Horizonte e Tiradentes — recebi um email anônimo de um sujeito que se dizia curador de um festival daquele estado. Ele me pedia para reeditar o curta-metragem, cortando o trecho abaixo. E me avisou (cito de memória): “Apesar de ter gostado muito do seu filme, tenho certeza de que, se você não retirar essa cena, não conseguirá exibi-lo em nenhum festival”. E ele tinha razão: ninguém mais o aceitou.
Na época, imaginei cá comigo que talvez fosse paranóia minha e que o curta não tivesse sido aceito simplesmente por não ter ficado à altura do que eu pretendia — nossos recursos financeiros e técnicos foram escassos — contudo, meses depois, me surpreendi com o convite de duas mostras européias: No Siesta: Fiesta! (Tromsø, Noruega, 2009) e Verão Cinema e Outras Coisas (Costa da Caparica, Portugal, 2009). E eu nem sequer havia entrado em contato com elas. Eu apenas havia me cansado de gastar dinheiro com Correio e taxas de inscrição, sem obter qualquer sucesso, e o publicara no YouTube.
De lá para cá, com a quebra de várias produtoras nas quais trabalhei, com minha participação ácida em listas de discussão de cineastas (em sua imensa maioria esquerdistas) e com minha recusa em participar de editais, fiquei para escanteio no meio cinematográfico.
Não somos muitos. Mas nós existimos.