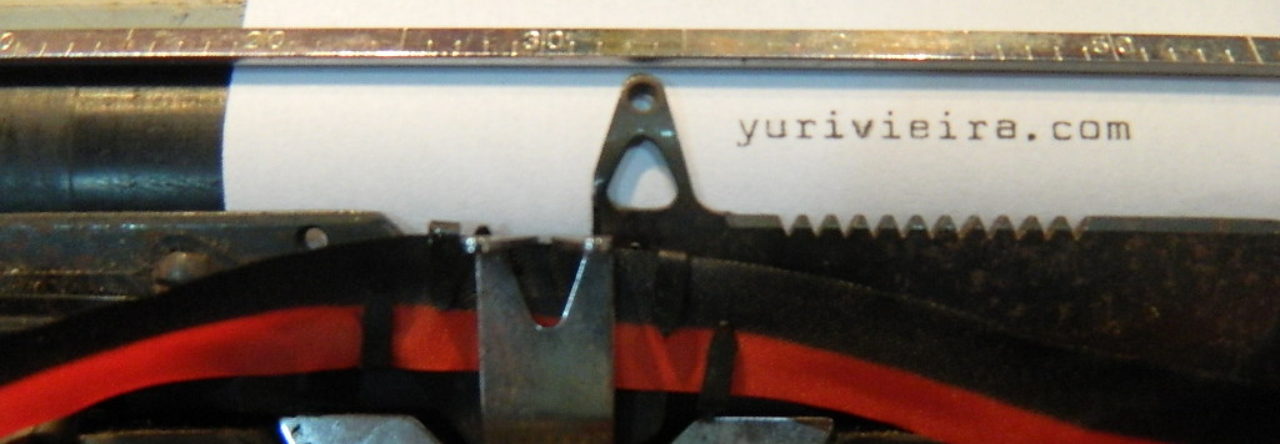Em 2000, na Casa do Sol, ficamos alguns meses em apuros ou, como dizíamos, no mato com oitenta cachorros mas sem nenhuma empregada doméstica. Não me lembro exatamente por que Hilda Hilst havia demitido a anterior, mas, salvo engano, creio que tinha algo a ver com a qualidade do café feito por ela. Qual a importância do café? Ora, uma casa cheia de escritores é praticamente movida à cafeína. Naquela época, além da própria Hilda, morávamos lá eu, Zé Luis Mora Fuentes e Bruno Tolentino. Ficou arranjado que, se Mora Fuentes fosse a São Paulo, Chico, o caseiro, prepararia as refeições da Hilda e eu, a dos demais. Com Mora Fuentes presente, ele decidiria o que cozinhar e quem iria ajudá-lo. Eu, Chico e Mora Fuentes também dividíamos as tarefas de lavagem das roupas e da louça. Antônio Ramos, secretário do Bruno, lavava as roupas deles e, marceneiro de profissão, prosseguia com a reforma das portas, das janelas e do forro da casa. Chico continuava a cargo dos canis e seu Jaime, do jardim. Hilda, que não sabia sequer fritar ovos, e Bruno, que não estava bem de saúde, continuariam suas leituras e escritos. Limpezas gerais só ocorreriam em casos de extrema necessidade, e isto significava: ficaríamos mergulhados em pó e poeira por muito tempo. Em suma, após aproveitar um refúgio literário cheio de regalias, eu me vi numa situação digna de república estudantil, onde cada um acaba se dedicando mais ao trabalho braçal do que aos estudos.
— Carne com batata de novo?
Era Antônio, reclamando mais uma vez dos meus dotes culinários. Sim, certa feita, durante os quinze dias de ausência do Mora Fuentes, que era metido a mestre cuca, fiz uma panelada de carne moída com batata para durar a semana inteira. Parecia ração de quartel.
— Antônio — eu retrucava — você foi morador de rua, eufemismo pra mendigo, e ainda está reclamando da minha comida? Você passou fome, meu.
— Eu sei, Yuri, desculpa. Mas não estou conseguindo explicar isso pro meu estômago.
Com o correr dos dias, a coisa tornou-se mais complicada. Sem uma agenda, tudo estava entregue ao acaso. Ninguém mais acertava sua vez de fazer o café — o que sempre resultava numa garrafa térmica vazia e no mau humor da Hilda — ou atinava se havia algum perigo em beber vinho do Porto antes de lavar pratos ou descascar batatas. E havia, como acabamos por descobrir. Chico estava particularmente tenso, pois, mesmo antes das novas tarefas, os cães já o deixavam sobrecarregado. Sim, era preciso contratar urgentemente uma nova empregada.
— Zé, você já encontrou alguém? — perguntava Hilda a Mora Fuentes, que, sendo um transplantado, recém retornara de suas visitas periódicas ao médico.
— Ai, Hilda, ainda não. Mas já liguei pra várias pessoas e a Inês também está ajudando.
Inês Parada era nossa vizinha e morava na casa que pertencera a Bedecilda Vaz Cardoso, mãe de Hilda. Aquela bela residência havia sido a antiga sede de uma próspera fazenda cafeeira. Mas Inês tampouco vinha obtendo sucesso na tarefa incumbida: nada de candidatas à função!
Duas ou três semanas mais tarde, a confusão já era tanta que, num belo dia, Bruno Tolentino anunciou que deixaria Antônio conosco para se refugiar por algum tempo no Rio de Janeiro. Disse que se hospedaria com sua antiga babá, fato esse que achei bastante curioso: um homem com mais de sessenta anos hospedado com sua própria babá! E Bruno falava dela com imenso carinho, como se falasse da própria mãe. E ele, aliás, apesar de excluído das tarefas, já havia contribuído na cozinha com pelo menos quatro feijoadas, as quais ia preparando — “corta a couve mais fininha, Yuri!” — enquanto nos narrava inúmeros “causos”.
— Vai ficar muito tempo no Rio, Bruno?
— Umas duas semanas. Assim o Antônio aproveitará para restaurar o forro do nosso quarto. Não estou com saúde para respirar esse pó de serragem.
Foi numa dessas semanas de ausência do Tolentino que recebemos o telefonema de um aluno da Oficina de Roteiristas da TV Globo. Hilda me passou o telefone e me pediu para descobrir o que ele queria, já que o sujeito falava sofregamente sem nunca chegar ao busílis, o que muito a irritava. Odiava gente “vaselina”.
— Ele quer vir te visitar com uma amiga, Hilda.
— Hoje?
— Sim. Agora à tarde.
— Mas a gente não tem empregada, Yuri.
Sorri: — Deixa que eu faço o café, senhora H.
Uma hora mais tarde, eu estava justamente aguardando a água entrar em ebulição quando ouvi um carro adentrar a chácara. Os cães, como sempre, ficaram em polvorosa. Imagino que Mora Fuentes tenha ido recebê-los à porta enquanto Hilda, como de costume, os aguardava na sala de TV. Menos de um minuto depois, ouvi vozes e, de repente, Chico veio da sala para a cozinha, os olhos esbugalhados.
— O que foi, Chico?
— Yuri do céu!
— O que aconteceu, Chico?! Fala logo.
— Minino di Deus!! — exclamou novamente em voz baixa e, em seguida, ignorando-me, saiu pela porta dos fundos na direção do canil.
Ai, ai, pensei comigo. Está me cheirando a mais problemas.
Foi então a vez de Mora Fuentes abrir a porta da sala, meter a cabeça na cozinha e indagar:
— Já tá pronto, Yuri?
— Terminando, Zé — e, ao olhar para ele, notei que estava lívido, os olhos tão arregalados quanto os do Chico.
— Que cara é essa, Zé? O que vocês estão fazendo aí?
— Ai, Yuri… — e suspirou longamente, desaparecendo em seguida.
A situação era bem estranha. O que estaria acontecendo? Peguei a garrafa térmica, coloquei as xícaras numa bandeja e me dirigi à sala. O tal roteirista era um sujeito baixo, gordinho e vestia paletó e gravata. A tal amiga que o acompanhava era… seria possível? Grace Kelly?!! Sim, Grace Kelly esculpida em carrara… Mas… caramba! Grace Kelly já habitava outra morada do universo havia anos!
— Boa tarde — eu disse. — Olá, olá.
— Este é meu amigo Yuri, jovem escritor — apresentou-me Hilda.
Eles me cumprimentaram e, sem perder tempo, o roteirista meteu-se a falar detalhadamente do roteiro de longa-metragem que tinha em mãos, o qual, fez questão de ressaltar, permaneceria conosco para que dele extraíssemos uma opinião crítica. Hilda olhava para Mora Fuentes com a clara intenção de transferir-lhe a incumbência, mas este, em vez de olhar para mim tencionando fazer o mesmo hierarquia abaixo, estava tão em órbita quanto eu. Só me lembro até aí. Não sei mais o que o gordinho falou. Roteiro? Que roteiro? A beleza daquela mulher, uma catarinense chamada Irene, era opressiva, dolorida até. Desandava qualquer veleidade de dar atenção a outro ser humano circundante. Na verdade, chamá-la de Grace Kelly era como xingá-la de canhão ou capivara. Quem sabe, após uma hipotética noitada regada a litros de álcool, curtindo olheiras enormes, com rosto e olhos muito inchados, e isso, claro, depois de apanhar na rua a ponto de se desfigurar, só então Irene devesse acordar tão quasímoda, feia e torta quanto… a Grace Kelly. Talvez, se ela batesse uma bicicleta de frente com um caminhão, sim, talvez assim ficasse parecida com a Grace Kelly. Ela era muito mais linda, tipo a irmã que Grace Kelly teria invejado mortalmente. Meu Deus, Grace Kelly teria odiado aquela mulher! Jamais a deixaria hospedar-se em Mônaco. Já Hitchcock, claro, teria subido pelas paredes. Nem durante meus anos de sociedade num estúdio fotográfico de São Paulo eu vira uma modelo tão bela.
— Então você também é escritor?
E agora ela se dirigia a mim! Caí das alturas. Olhando em torno, notei que Hilda, Mora Fuentes e o tal roteirista haviam se deslocado até o escritório, onde o visitante certamente ganharia algum livro autografado. Eu e Irene estávamos sozinhos! Quanto tempo teria durado meu transe?
— Sim, sim — gaguejei. — Mas por enquanto só publiquei um livro.
— Nossa, que legal. Eu faço Letras na UNICAMP.
— Sério?! Letras?
Aquela senhorita de vestidinho de verão branco, seio conspícuo, longas pernas e rasteirinhas se levantou para pegar a garrafa térmica e percebi que, se estivesse de saltos, ficaria mais alta do que eu. Eu me adiantei e lhe servi o café.
— Desculpa pelo café mal feito, Irene. Estamos sem empregada faz uns dois meses. Tá difícil conseguir outra. Elas se assustam com a quantidade de cachorros e desaparecem no primeiro dia.
— É para morar aqui?
— Não necessariamente, mas, se for preciso, a gente pode liberar um quarto. Conhece alguém?
— Uê! Eu topo!
Foi minha vez de arregalar os olhos: — Você?! Trabalhar aqui?!!
— Por que não? É a Casa do Sol! Eu faria qualquer coisa pela Hilda e por vocês. E eu adoro cachorros! Sem falar que dá para ir até a UNICAMP de bicicleta.
Aquela foi a idéia mais genial, mais espetacular daquele ano. Eu me segurei para não dar pulos como quem comemora um gol da seleção.
— Mas… e o seu namorado? Não vai reclamar?
— Quem? Esse cara aí? Não é meu namorado, não. Eu conheci ele hoje na UNICAMP. Ele veio do Rio de Janeiro. Foi até a faculdade perguntar se alguém sabia onde a Hilda Hilst morava e eu me ofereci para trazê-lo. Eu sabia o endereço mas nunca tive coragem de vir aqui.
O rapport fora estabelecido. Conversamos animadamente por vários minutos. Rolou uma química, digamos. Sorrisos e olhares daqui e de lá. Contei-lhe rapidamente dois ou três casos engraçados sobre a Casa. Rimos. Ela me falou de Santa Catarina e de Florianópolis, sobre como era solitário estudar em outra cidade. Anotei o telefone dela num pedaço de papel. Eu não via a hora de contar a novidade aos demais. Irene, Irene… Coitada da Grace Kelly!
Meia hora depois, Mora Fuentes retornou do escritório com o roteirista e ficamos os quatro conversando amenidades. Hilda permaneceu no escritório, provavelmente entediada com o papo melífluo do visitante. A certa altura, Antônio me chamou da porta que dá para o átrio. Fui até lá.
— Yuri, o Chico me disse que tem uma deusa aí na sala.
— Cara…
— Então é verdade?
— É. E tem mais: ela vai ser a nova empregada!
— O quê? Tá brincando!
— Verdade.
— Viu ela, Antônio? — perguntou Chico, vindo dos fundos.
— Ela vai ser a empregada, Chico!
— Ôxe! — exclamou ele, espantado. — Ces tão maluco?
Eu ri: — Maluco por quê, Chico?
— Isso vai dá briga de faca, moço. Já vou até amolá minha peixeira.
— Como assim, Chico? — perguntei, rindo.
— Esse monte de cabra soltero em casa! Isto aqui não é mostero, não. Até o Zé se arrupiô todim quando viu ela.
Antônio interveio: — Chico, eu sou foragido da polícia e ex-morador de rua. Você é caseiro e analfabeto. Ela é muita areia pro nosso caminhão. O Bruno tem aids e, por causa disso, diz que já deu um fora até na Vera Fischer. O Mora Fuentes é comprometido. Deixa que o Yuri toma conta dela.
— O quê? Tá doido, Antonho?! Ela num vai ser a empregada? Então, empregada tá é no mesmo nível que eu, diacho.
Rimos. De fato, ali estava um bom motivo para uma briga de faca. Seria uma boa idéia repassar mentalmente minhas aulas de maculelê. Talvez fossem finalmente úteis.
Voltei então à sala, onde conversamos mais alguns minutos. Irene me tratava com uma intimidade natural e cálida que só augurava felizes tempos vindouros. Se ela tivesse permanecido conosco mais meia hora, eu teria visualizado até mesmo as feições dos nossos futuros filhos.
Quando nossos visitantes se preparavam para partir, Irene, ao se despedir de mim, me disse ao ouvido:
— Yuri, só tem um problema: não sei fazer café!
Eu ri: — Eu te ensino! Eu mesmo só aprendi este ano, na noite do aniversário da Hilda. E, se você quiser, eu faço e a gente diz pra ela que foi você quem fez.
— Combinado! — e me devolveu aquele sorriso que teria enfartado Hitchcock.
Fomos todos até o alpendre, devo ter prometido ao roteirista que leria o roteiro dele — até hoje não sei se alguém o leu (quem mandou o cara trazer consigo semelhante fator de diversionismo?) — e, quando o carro se afastou em direção à rodovia Campinas-Mogi Mirim, eu disse ao Mora Fuentes.
— Zé, ela quer ser nossa empregada!
— Uma empregada linda que estuda Letras? Não acredito!
— Sério, cara!
— É minha! Eu vi primeiro! — disse ele, rindo. — Eu sou mais experiente, publiquei mais livros, vocês não são páreos para mim — e deu uma gargalhada de vilão de desenho animado. — Deixa só ela ficar sabendo que eu me correspondia com a Clarice Lispector!
Ouvindo nossas risadas, Hilda nos chamou do escritório:
— Do que é que vocês estão falando aí?
Fomos até lá. Hilda, sentada à mesa, óculos na ponta do nariz, cigarro entre os dedos, pegou um grande cristal de rocha e o utilizou para marcar a página do livro que vinha lendo.
— Hilda… — comecei, empolgado. — Já arranjamos uma nova empregada!
— Que bom, Yuri! Você falou com a Inês?
— Não, Hilda — atalhou Mora Fuentes. — É a Irene, ela vai trabalhar aqui.
Hilda franziu o cenho: — Irene? Que Irene?
— Essa garota que acabou de sair, Hilda! — respondi de pronto. — Ela disse que pode vir morar com a gente, disse que lava, passa, cozinha, borda e que, quando precisar, irá à UNICAMP de bicicleta.
Hilda retirou os óculos e se levantou de supetão: — O quê?! Nem pensar!!!
Eu e Mora Fuentes ficamos paralisados: seria possível que a irmã mais bonita da Grace Kelly já não seria nossa empregada? Ficamos mudos uns vinte segundos, apreciando o esfarelamento do nosso sonho.
— Por que não, Hildeta? — finalmente indagou Mora Fuentes, tão desconsolado quanto eu.
— Vocês ficaram loucos?! — perguntou, quase enfurecida. — Se essa mulher vier morar aqui, vocês vão me deixar apodrecer num canto e só vão reparar que estou morta quando eu começar a feder. Não, não… Nem pensar!
Então partimos para argumentos supostamente mais pragmáticos: discorremos sobre a dificuldade de se conseguir funcionárias que não temessem tantos cães, falamos de como Irene teria maior respeito e cuidado com todos nós, uma vez que se tratava duma leitora e estudiosa de literatura, falamos de sua simpatia e educação, e assim por diante. Hilda foi inabalável:
— A mulher desta casa sou eu! Quando falarem com a Inês, peçam para ela arranjar uma empregada feia. Bem feia. E chega de conversa!
Naquele momento, eu me lembrei do dia em que Hilda me convidou para morar na sua chácara. Na ocasião, ela dizia necessitar de um secretário e eu me lembrei de uma amiga, estudante de Letras na USP. Ao me oferecer para convidá-la, Hilda me censurou:
— Não, mulher não! Mulheres são chatas demais, só discutem besteiras. — E depois de uma pausa, acrescentou: — Por que não vem você morar aqui, Yuri?
Em suma, o nome da chácara era Casa do Sol, e não Casa dos Sóis. Só havia lugar ali para uma estrela, do contrário todo o sistema planetário entraria em colapso. Ao menos parecia ser esse o ponto de vista da senhora H, cuja decadência física se ressentia eventualmente da beleza de outras mulheres mais jovens. Ela, que décadas antes também fora uma linda mulher, tendo literalmente atraído as atenções de Marlon Brando, Dean Martin, Howard Hughes, Carlos Drummond de Andrade e Vinícius de Moraes, não conseguia lidar muito bem com a novidade diária da velhice. Diante de visitas ocasionais, ela sabia disfarçar como ninguém, mas no dia-a-dia a história era outra. Os dias que se seguiram, por exemplo, à estréia de sua dentadura postiça foram aterrorizantes: dizendo que sentia ter “um cotovelo dentro da boca”, falou diversas vezes em suicídio. Claro, como Hilda tinha fé e realmente temia a Deus (principalmente depois do uísque), tudo não passou de drama. Mas que drama! Só quem a conheceu, ou leu seus livros, poderia fazer uma idéia da intensidade. Agora, cá entre nós, o pior de tudo não foi sua recusa em me deixar convidar Irene. O pior mesmo foi, no dia seguinte, enquanto lavava minha roupa, encontrar no bolso da minha calça jeans um pedaço de papel completamente derretido: o número do telefone de Irene não passava de um borrão! Na UNICAMP, ninguém soube me dar qualquer informação. Nunca mais a vi. Fugaz, a irmã mais bela de Grace Kelly passou por nosso sistema como um cometa, com sua cauda brilhante e inesquecível.
____
Este relato fará parte do livro “O Exorcista na Casa do Sol”, a sair em breve.